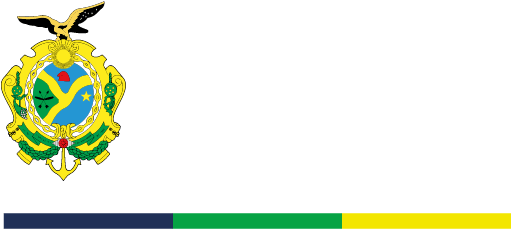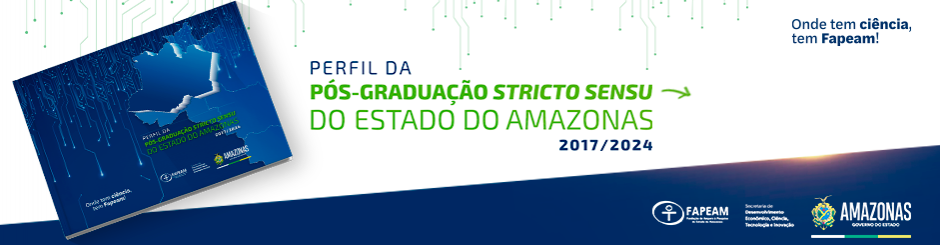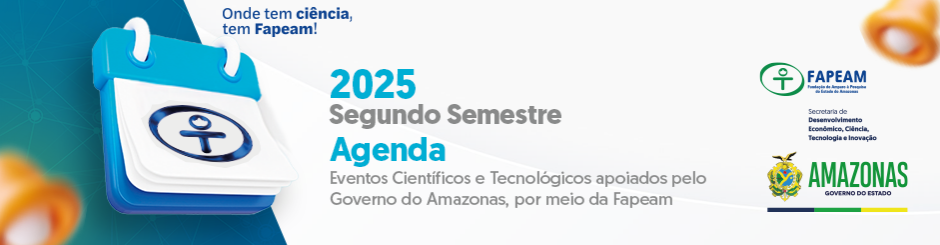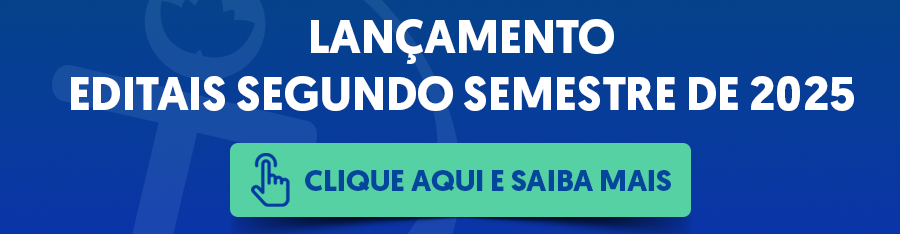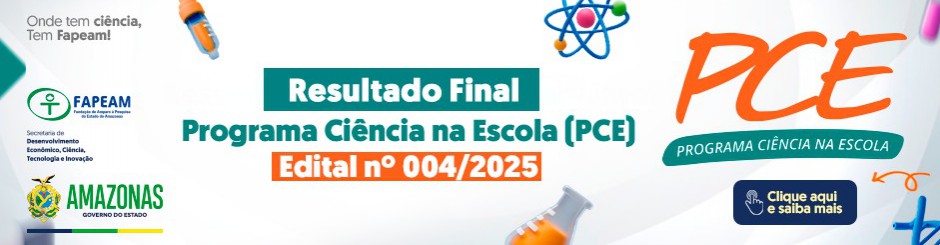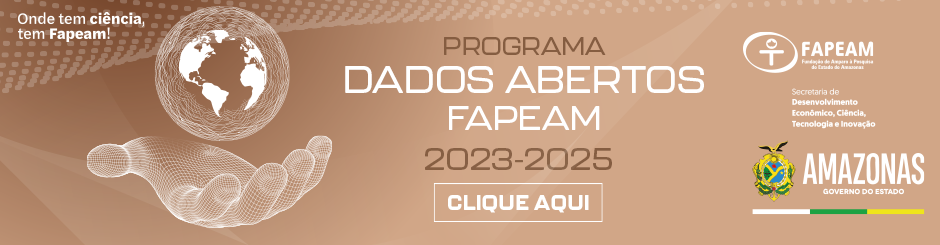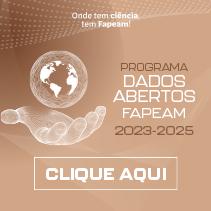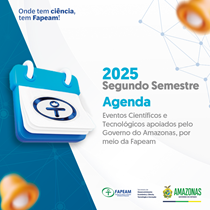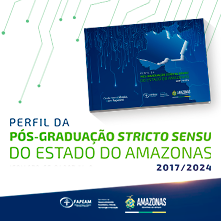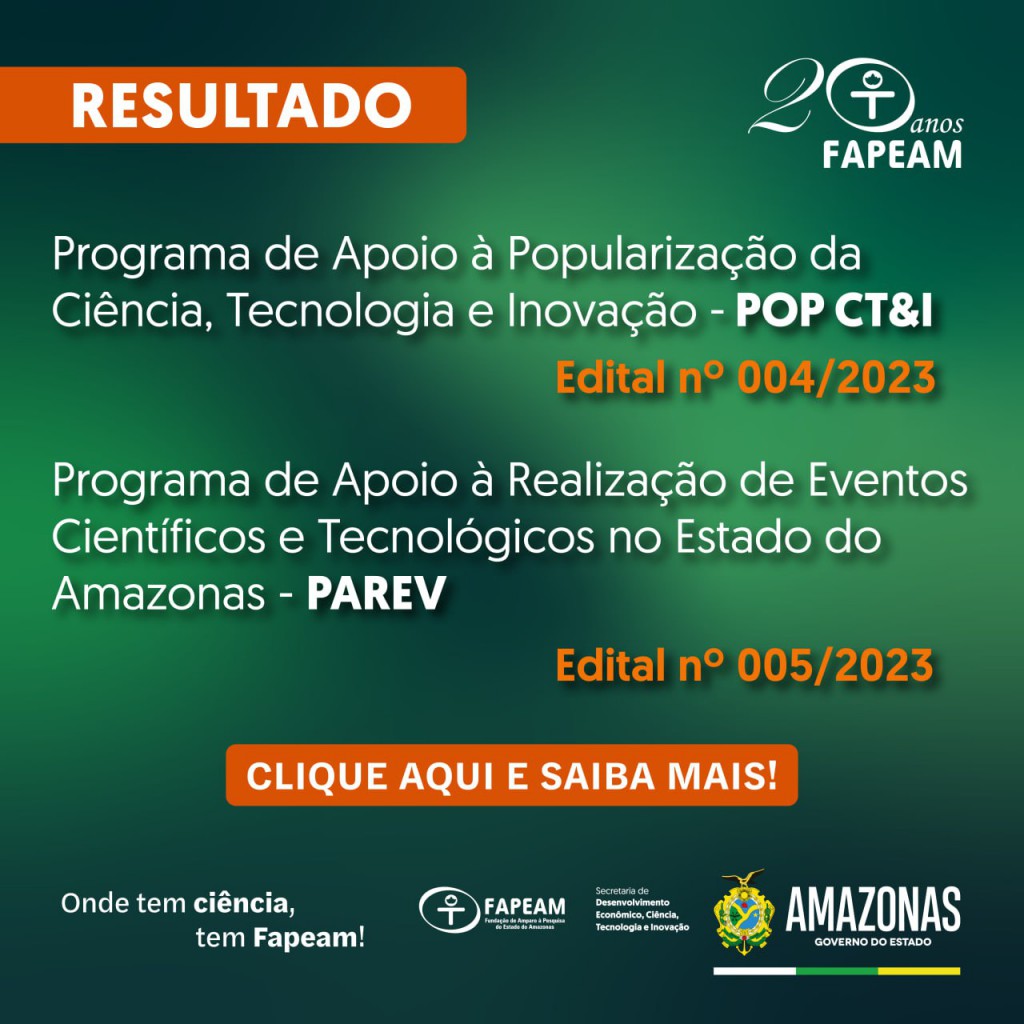Educação indígena diferenciada deu certo no Xingu
Uma experiência de educação bilíngüe que deu certo foi o trabalho realizado no Parque Indígena do Xingu, no sul da Amazônia brasileira. Lá, na comunidade ikpeng, onde convivem 350 pessoas das etnias Kamaiura, Trumai, Kayabi, Kalapalo, Kuikuro, Nahukwá, Mehinako e Waurá, o Instituto Socioambiental (ISA), organizou com essas comunidades a disciplina línguas indígenas.
A iniciativa, que contou com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) do Mato Grosso, também funcionou como meio de valorizar a cultura e a identidade dessas populações. De acordo com o lingüista Frantomé Pacheco, a partir de estudos existentes sobre a língua ikpeng, foi proposto um sistema de grafias baseado em símbolos do alfabeto latino, que são re-interpretados a partir do sistema fonológico das línguas indígenas, passando a representar os sons característicos dessas línguas.
“As línguas indígenas são de tradição oral. A escrita surge pelo contato. Nesse contexto, surgiu a partir da necessidade de implantação do ensino bilíngüe”, explica Frantomé Pacheco. O cientista esclarece que uma pessoa é alfabetizada por meio da escrita. Ele diz que a criança tem que relacionar o som com o sistema de grafemas (o alfabeto).
“Quando uma criança aprende a escrever e a falar em ikpeng, como primeira língua, torna-se mais fácil aprender o português como segunda língua de forma menos traumática”, pontua Pacheco. Ele acrescenta que, a partir do quadro inicial, os professores podem desenvolver toda a educação bilíngüe, por exemplo, material de ciência, geografia, matemática todos escritos em ikpeng.
Diversidade – Em um país onde se fala o português, a variedade lingüística da região é manifestada em um misto cultural não encontrado em nenhuma outra parte do Brasil. Como é o caso do multilingüismo só encontrado no alto Rio Negro e no alto Xingu. Nesses locais, as pessoas falam mais de uma língua devido ao padrão conjugal baseado em exogamia lingüística, quando, por exemplo, um índio tukano se casa com uma índia que não seja de sua etnia.
Segundo Pacheco, as alianças matrimoniais são motivadas pela troca de mercadorias, o que influencia na formação de redes sociais complexas. “Do ponto de vista social, é formidável. Isso porque algo novo sempre é acrescentado. Contudo, uma língua acaba tendo mais prestígio do que a outra e, conseqüentemente, passa a ser mais utilizada e corre o risco de desaparecer”, afirma.
O cientista explica que o monolingüismo nunca foi um padrão na humanidade. Para ele, isso é um padrão da sociedade moderna, que exige que se fale uma única língua sob o pretexto de unificar o país, padrão esse desenvolvido pelo nacionalismo. “Na Europa, as pessoas falam mais de uma língua. O bilingüismo ou o multilingüismo é comum na humanidade, principalmente, pelo contato entre as sociedades”, ressalta.
Amazônia – Mesmo com o trabalho que vem sendo desenvolvido por antropólogos e lingüistas em parceria com os índios na Amazônia, hoje, há línguas com pouquíssimos falantes. Os dessana, que falam, atualmente, tukano e nheengatu, são um exemplo dessa realidade.
De acordo com Ana Carla Bruno, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e doutora em Antropologia e Lingüística pela Universidade do Arizona (EUA), somente os mais antigos falam dessana, enquanto os filhos não. Outra situação crítica é dos uerequenas: apenas 50 índios ainda falam a língua, que está sob a ameaça de desaparecer (segundo a Organização das Nações Unidas – Unesco, determina que uma língua está sob risco de desaparecer quando há menos de 100 falantes em uma comunidade).
No caminho contrário da realidade das línguas indígenas do país está a população tikuna. Ela possui mais de 20 mil indígenas que falam a língua, “o que é algo significativo para a realidade do país, não apenas pelo número de falantes, mas pela vitalidade, que é determinada pelo grau de transmissão para as crianças”, diz Bruno.
A pesquisadora acentua que durante a adolescência se torna mais difícil de aprender a língua devido ao contato com outras culturas. É o caso dos mundurukus. Ela ressalta que os avôs, por várias razões, não ensinaram às crianças a língua materna. Contudo, hoje, os netos querem aprender a língua dos mais velhos. “É nesse contexto que a lingüística se insere como ciência”, pontua.