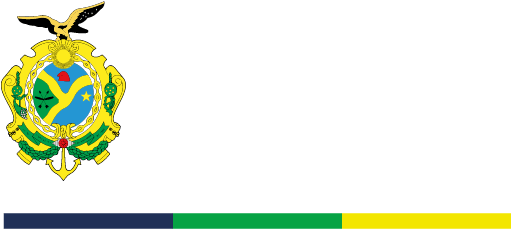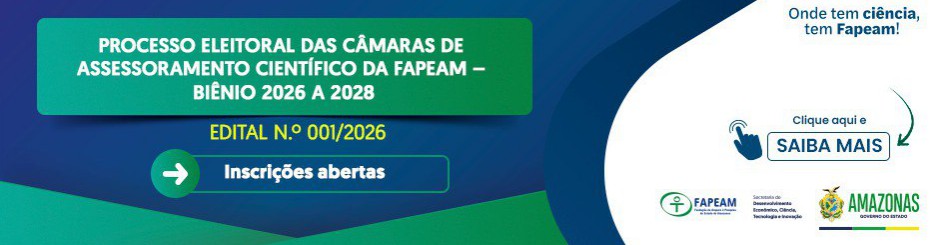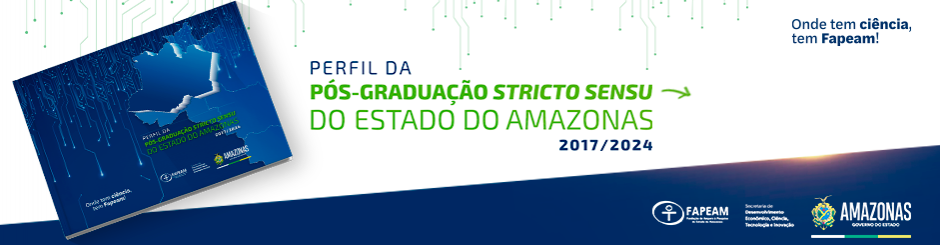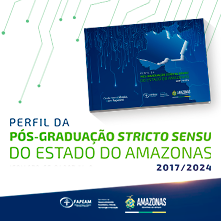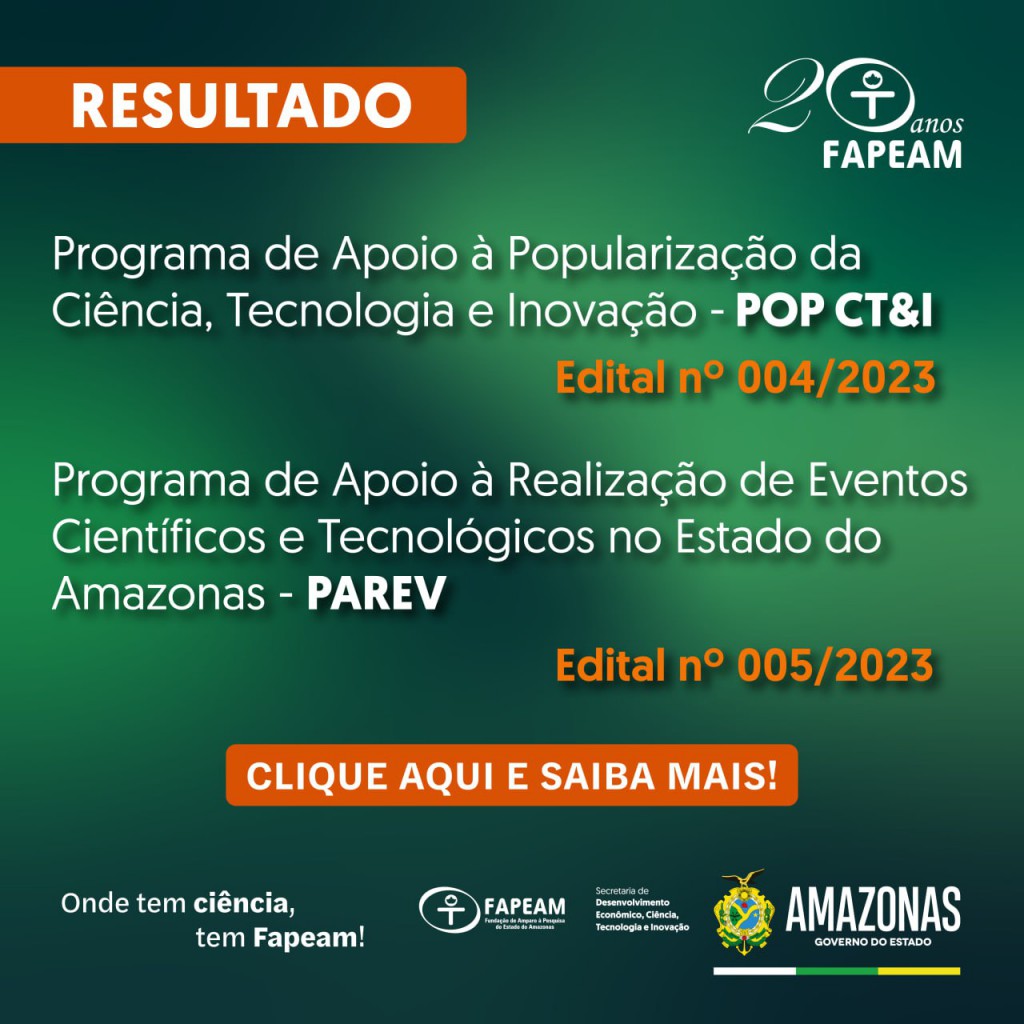Entrevista com o Jornalista Ricardo Alexino Ferreira
05/11/2013 – Um dos mais ativos e conceituados pensadores da Comunicação Social no Brasil, o jornalista Ricardo Alexino Ferreira é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP), instituição em que leciona desde 2009. De dezembro de 2005 a 2008, foi diretor da Rádio Universitária Unesp (Rádio Unesp-FM), onde enfatizou a divulgação científica e a democratização do conhecimento científico por intermédio do rádio. Uma trajetória acadêmica marcada pelo ensino, pesquisa e extensão na área de Comunicação Social que culminou com a sua tese de livre-docência Os critérios de noticiabilidade da mídia impressa na cobertura de grupos sócio-acêntricos em abordagem etnomidialógica, defendida em 2011, na USP.
Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no Facebook
Durante o IV Congresso de Jornalismo e Publicidade da Faculdade Martha Falcão, realizado em Manaus no início de outubro, Ricardo Alexino Ferreira concedeu ao jornalista Denison Silvan, da Agência de Notícias FAPEAM, a entrevista que você confere a seguir:
Agência de Notícias FAPEAM (ANF): Professor, o senhor deu aula na Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 1985 até 2009, período que tinha um programa de rádio naquela universidade voltado para a divulgação científica. Gostaria que o senhor nos falasse sobre essa experiência.
Ricardo Alexino Ferreira (R.A.F.): No período a que você está se referindo, eu apresentava um programa jornalístico de entrevistas chamado Ciência em Debate, que depois mudou de nome para Unesp-Ciência. Em 2005, eu assumi a direção da Rádio Unesp, que está entre uma das maiores emissoras culturais educativas do País. Na Unesp, eu ministrava as disciplinas Jornalismo Especializado I e II, para o curso de Jornalismo, dando ênfase em ciências. Já no programa de pós–graduação, ministrei a disciplina Midialogia Científica e Especializada, também com ênfase em ciências. Em 2009, saí da Unesp e fui ser professor na USP, trabalhando dentro das dimensões ensino, pesquisa, extensão e gestão. Lá apresentei de 2009 até final de 2012 o programa de televisão Trajetória, exibido na TVUSP, que aborda a divulgação da ciência a partir da biografia de pesquisadores e cientistas. Atualmente as minhas pesquisas continuam abordando a divulgação da ciência, que eu chamo de Midialogia Científica, e da diversidade, que eu chamo de Etnomidialogia, no contexto educomunicativo, pois para mim essas áreas são imprescindíveis para o conhecimento científico.
ANF: Muito interessante essa abordagem. Fiquei pensando qual seria a ligação entre divulgação científica e diversidade.
R.A.F.: No primeiro momento você pode até pensar que são duas áreas diferentes. Porém, divulgação científica e diversidade não são tão distintas assim. Eu desenvolvi uma pesquisa, envolvendo a segunda metade do século XIX, mostrando que a divulgação da ciência está intimamente ligada à questão da diversidade, que, no caso, eram as teorias raciais. Neste sentido, não é possível se falar em divulgação da ciência sem passar pela questão das teorias raciais. Em 2009, quando eu fui lecionar na USP, dei continuidade a essas linhas de estudo, até para consolidar a linha Ciências da Comunicação e diversidade. Entendendo que a questão da diversidade é uma área das Ciências da Comunicação e, portanto, está propensa aos estudos da mídia e da divulgação da ciência. Além do mais, é possível atrelar essas áreas (Midialogia Científica e Etnomidialogia) a uma terceira que seria a Educomunicação, que é um campo de estudo novo e envolve a percepção convergente e mais ampla da comunicação, o que leva a um aprofundamento maior dos fenômenos midiáticos.
ANF: É senso comum dizer que a divulgação da ciência no Brasil ainda é falha. Em sua opinião, o que poderíamos fazer para contornar essa situação?
R.A.F.: É falha porque a ciência que o jornalista conhece e exerce é positivista, ou seja, aquela ciência que vem da segunda metade do século XIX. É o positivismo criado por Auguste Comte, que vê a ciência como uma estrutura departamentalizada, especializada, que dá mais ênfase às ciências biológicas e exatas. Até hoje essa herança é muito forte dentro do jornalismo, tanto que, quando o jornalista vai cobrir ciência, a primeira coisa que vem à cabeça para ilustrar a matéria é um tubo de ensaio ou um conjunto de átomos. Essa visão positivista de ciência ainda é muito forte e eu acho que ela é prejudicial, pois afasta a ciência do cotidiano. A ciência para mim só pode ser entendida no cotidiano, pois só assim pode ser ressignificada pela sociedade. O jornalista hoje não faz muito esforço para mudar essa situação, pois coloca as descobertas científicas de maneira generalizada. Ele não tem a menor preocupação em falar sobre a metodologia, como é que o cientista conseguiu chegar naquele resultado. Ele só passa o resultado. Então na cabeça do público os resultados de pesquisas científicas são mágicos. É como se surgissem do nada. E não são. A ciência tem toda uma construção metodológica.
ANF: Temos aqui em Manaus um curso de especialização em Jornalismo Científico, promovido pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD – Fiocruz Amazônia), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-AM) e FAPEAM. O que o senhor recomendaria para que o egresso desse curso possa melhorar seu desempenho ao divulgar ciência?
R.A.F.: De um modo geral, vejo que o jornalista erra muito quando não usa em suas matérias a polissemia, não ouve vozes diferentes. Geralmente as matérias de ciências são pouco crítico-analíticas e possuem uma única fonte. Há uma submissão do jornalista à figura do cientista, do pesquisador. Ele não questiona o cientista e o pesquisador, além de aceitar passivamente todas as informações passadas por esses profissionais, sem confrontá-las. Mais um detalhe: esse jornalista não se vê como um cientista, ele não vê que a área dele é pertence às Ciências da comunicação. Então, ele se posiciona como técnico frente a esse cientista e isso implica, e muito, na maneira pela qual a matéria vai ser elaborada e apresentada ao público. Geralmente, os alunos de jornalismo não gostam de disciplinas voltadas para a divulgação da ciência e tampouco de Metodologia Científica. Eles têm uma resistência muito grande essas disciplinas e, quando precisam pensar metodologicamente uma matéria, se atrapalham. Isso eu percebo em sala de aula, no cotidiano. O curso de especialização em Jornalismo Científico do ILMD-Fiocruz Amazônia, SECTI-AM e FAPEAM é importante porque amplia o conhecimento do jornalista em relação à ciência. Esse curso instrumentaliza o jornalista a pensar criticamente a ciência e a sua inserção na sociedade. E, o mais importante, faz com que o jornalista veja a sua própria área de Ciências da Comunicação como sendo também científica.
ANF: O cenário da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, especialmente no Amazonas, vem mudando para melhor nos últimos anos. Neste contexto, qual a sua opinião a respeito do papel das fundações de amparo à pesquisa, que, com exceção de Roraima, cobrem todo o território nacional?
R.A.F.: Eu acho de extrema importância o papel das fundações de amparo à pesquisa. Se atualmente existe uma nova possibilidade de construção da ciência, isso se deve, e muito, a essas instituições. Inclusive, é interessante pegar o exemplo da FAPEAM, pois ela conseguiu ter um grande desenvolvimento em pouco tempo. Hoje, ela é a terceira ou quarta fundação mais influente do País, com apenas dez anos de atuação. Em minha opinião, o que precisa ser visto nessas instituições são exatamente os investimentos em ciência. Como é que esses investimentos se dão. Muitas vezes pode haver exatamente a reprodução do modelo positivista, com ênfase nas ciências exatas e biológicas, porque elas trazem em si uma característica útil, que resulta em desenvolvimento regional. Então isso contribui para fomentar a ideia de que ciência só é desenvolvida nessas áreas quando, na verdade, as áreas de ciências humanas e de ciências sociais aplicadas produzem pesquisas que podem ser muito importantes nos desenvolvimentos econômico e social do País. Eu diria que essas agências de desenvolvimento são imprescindíveis, mas, precisam repensar a maneira como planejam a ciência atualmente. No caso da FAPEAM vejo que existe uma preocupação em pensar as ciências em todas as áreas, principalmente dentro das humanidades e das Ciências Sociais Aplicadas. Percebo que há uma ênfase dessa agência com a Comunicação e a sua interface com a divulgação científica. Acredito que a Agência de Notícias FAPEAM está indo em um caminho correto, pois pensa o desenvolvimentoeconômico atrelado ao desenvolvimento humano e também às questões subjetivas, humanas.
ANF: Professor, como jornalista que o senhor é, qual seria seu recado para os estudantes de Jornalismo do Amazonas?
R.A.F.: O jornalista, não somente aqui no Amazonas, precisa abrir mão da ideia de que é simplesmente um técnico. Precisa entender que a Comunicação Social é uma área da contemporaneidade. O jornalista é um narrador da contemporaneidade, portanto, ele tem que ter um conhecimento amplo, interdisciplinar. Ele tem que ter um conhecimento que o favoreça ver além do horizonte. No entanto, o que a gente mais vê são os cursos de jornalismo, em todo o país, dando ênfase aos aspectos práticos da profissão. Sou também avaliador do Inep-MEC e tenho percebido que os projetos pedagógicos dos cursos de Comunicação Social, dos diferentes cursos de diversas cidades do Brasil, se preocupam muito com os aspectos do fazer Jornalismo. Já fui a cidades de todas as regiões do Brasil e essa preocupação em dominar a técnica é prevalente. Isso acaba resultando em um grande problema. Quando o jornalista ou mesmo o estudante de jornalismo se depara com uma situação que exige um conhecimento maior, ele não está habilitado para isso. Aí ele vai recorrer somente à técnica para dar conta de problemas muitas vezes complexos. Aquilo que está além dos conhecimentos práticos ele não consegue lidar. Ser jornalista, para mim, é ter a sensibilidade e a capacidade de ver além dos fatos e conseguir com habilidade trabalhar passado, presente e futuro dentro de um mesmo contexto. Ou seja, o jornalista deve estar à frente (e bem à frente) dos fatos e não a reboque deles. E deve também desenvolver uma percepção subjetiva dos fenômenos.