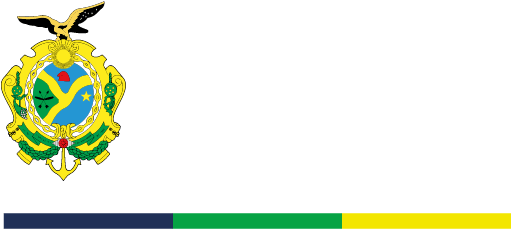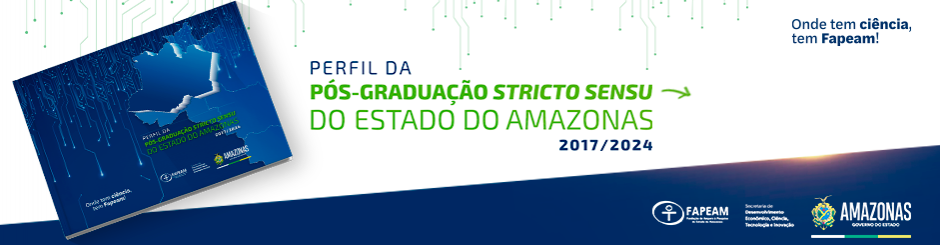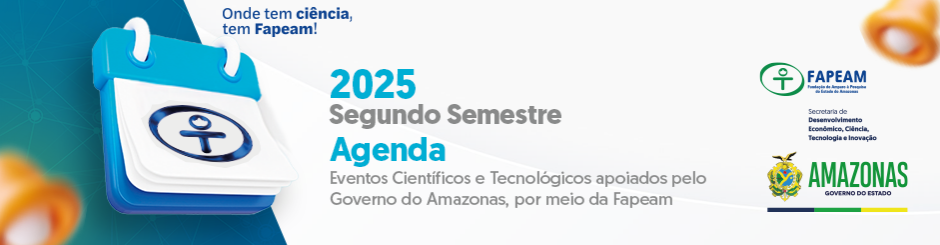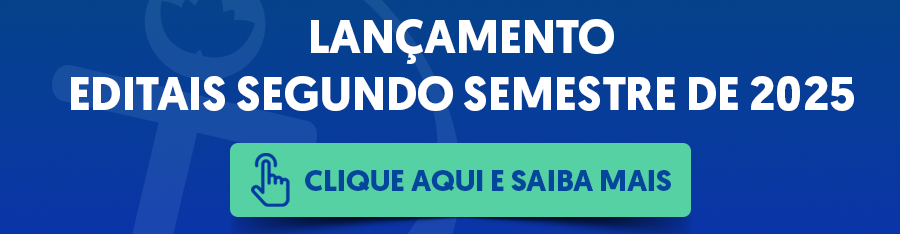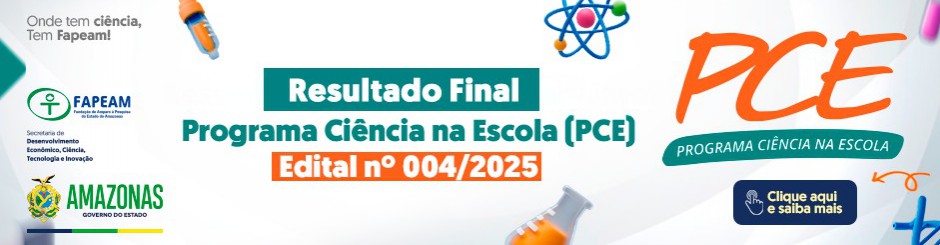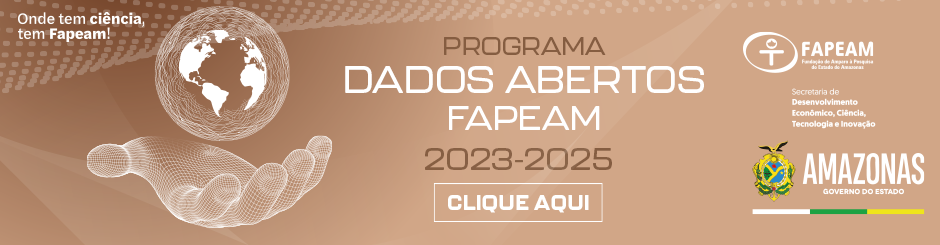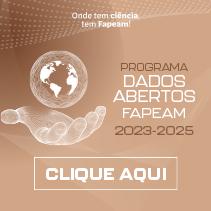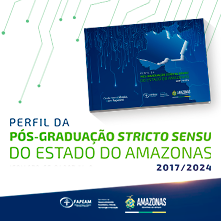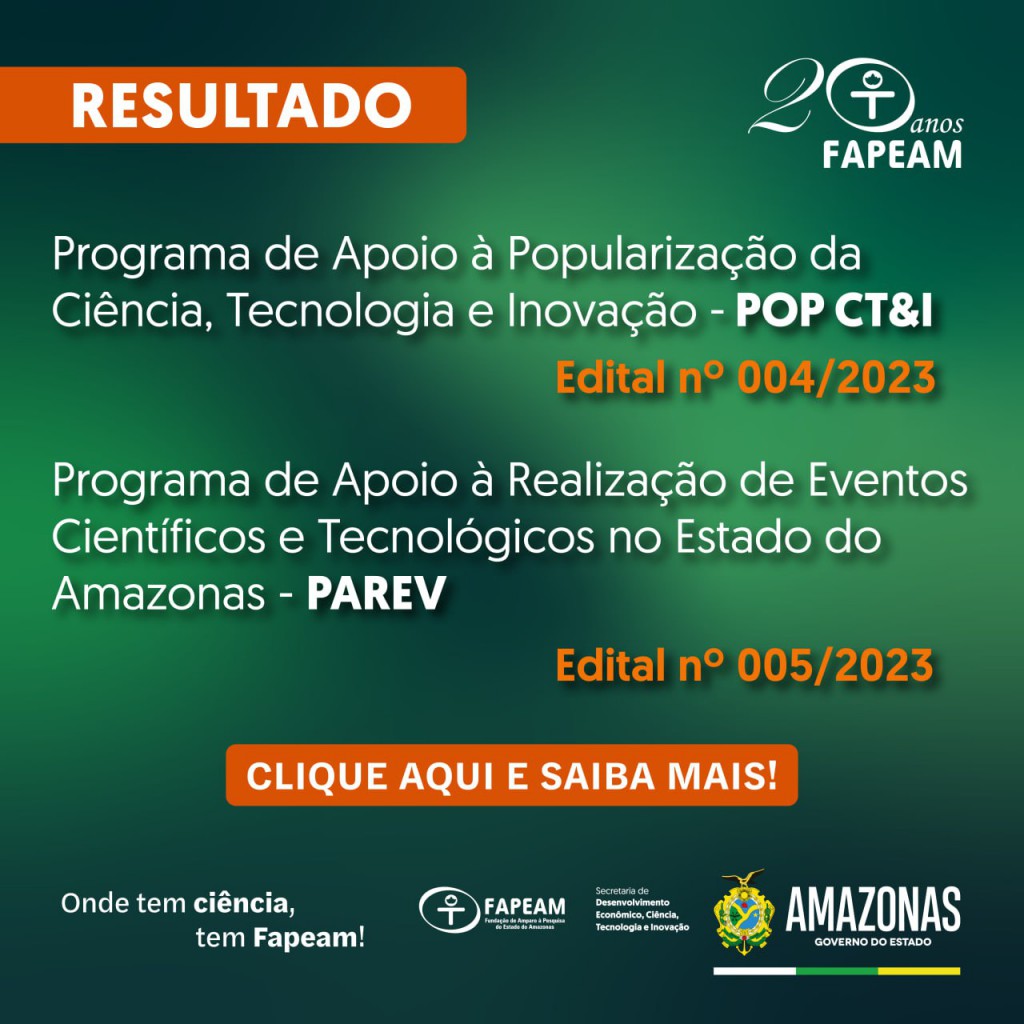Entrevista: Ulisses Capozzoli, um idealista da Divulgação Científica
14/05/2012 – A cerimônia do Prêmio FAPEAM de Jornalismo Científico, realizada na última sexta-feira, 11/05, contou com a presença do editor-chefe da revista Scientific American Brasil, Ulisses Capozzoli. Jornalista especializado em divulgação científica, ele é mestre e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. A Agência FAPEAM aproveitou a oportunidade da passagem dele por Manaus para saber um pouco mais sobre o que ele pensa sobre a prática do Jornalismo Científico no Brasil e sobre a iniciativa de premiar profissionais e estudantes que se dedicam a esta área da comunicação.
Agência Fapeam – Como você avalia o desenvolvimento da prática do Jornalismo Científico no Brasil?
Ulisses Capozzoli – O jornalismo científico, ou jornalismo de ciência, como prefere alguns, teve um avanço significativo se considerarmos, por exemplo, a situação anterior ou do início dos anos 80. Nesse período havia quase nada. No Jornal do Brasil (agora extinto) havia o ótimo Jorge Luiz Calife, na Folha de S. Paulo uma coluna (Periscópio) do professor José Reis e o Ronaldo Mourão escrevia sobre astronomia também no JB. Era tudo. Comecei a escrever sobre ciência, mais especificamente sobre astronomia, na Folha de S. Paulo em 1983, a partir de um artigo relativo ao lançamento do telescópio espacial europeu Iras, que detectou um “feto” planetário em torno de Vega (alfa de Lira) reagindo a um artigo conservador que havia sido publicado pela Folha mesmo sobre essa questão.
Em 2001, quando eu era presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC), fizemos em São Paulo o 1º Congresso Internacional de Jornalismo Científico e, neste encontro, ficou evidenciado que havíamos percorrido um alonga distância e atingido uma excelente qualidade em curto espaço de tempo. Há algumas razões para isso: 1) criação do CNPq (1951) 2) Criação da Fapesp (1967) e outras agências estaduais de financiamento à pesquisa e 3) formalização da pós-graduação (1976) que formou pesquisadores no Brasil. Nos anos 80 isso tudo impactaria positivamente a produção de ciência no Brasil e acabaria estimulando a divulgação científica.
No início dos anos 80 surgiu a revista Ciência Hoje, da SBPC, depois a Superinteressante voltada para um público mais amplo (em especial estudantes); depois a Pesquisa Fapesp e, em 2002, Scientific American Brasil que traz um aporte de ciência internacional. Isso impactou também os jornais, mas não o suficiente para que tivessem um suplemento de ciência (isso existe na área de lazer, computação, turismo etc.). A Folha teve um suplemento por algum tempo, mas depois desistiu dele.
De qualquer maneira, ainda temos dificuldades. Os jornais não oferecem suplementos nesta área apesar de reconhecerem em editoriais etc. que vivemos a “sociedade do conhecimento”. O tradicionalismo ainda faz com que tenhamos atenção restrita à política (politização da informação com a eleição de Lula, em especial, em contraponto ao Collor de Mello) e à economia.
AF – Mas qual é a realidade hoje?
UC- Mais recentemente creio que tenha havido uma queda de qualidade no enfoque dos temas. Um buraco negro, por exemplo, costuma ser referido como um “ralo cósmico”. Pretensão a meu ver indesejável e negativa para o papel do jornalismo científico que, a meu ver, deve sensibilizar a sociedade para a perspectiva da ciência. Em especial quando temos um crescimento assustador, abusivo e impune, de exploração religiosa por igrejas e bispos que fazem milagres em auditório. Mas essa é uma questão mais ampla e complexa.
AF – E qual o maior desafio nesta área nos dias de hoje?
 UC – As chamadas mídias sociais, ou novas mídias (Face book e especialmente o Twitter) ainda devem ser devidamente interpretadas. O que se pode discutir, por exemplo, em 140 caracteres? Talvez mais confusão que esclarecimento. E, em divulgação científica de qualidade, é preciso levar em conta uma situação raramente discutida, o que eu chamo de “experiência de estranhamento”. Porque, por exemplo, os quarks têm o comportamento que tem? É uma postura lúdica do quarks, transformando-se sem cessar ou isso é fundamental para a “estabilidade” do mundo tal como reconhecemos? Com isso quero dizer que a “explicação” pretensamente racional oferecida pela abordagem jornalística, por exemplo, pode fazer parecer que as coisas são muito simples, quando, na realidade, não é assim.
UC – As chamadas mídias sociais, ou novas mídias (Face book e especialmente o Twitter) ainda devem ser devidamente interpretadas. O que se pode discutir, por exemplo, em 140 caracteres? Talvez mais confusão que esclarecimento. E, em divulgação científica de qualidade, é preciso levar em conta uma situação raramente discutida, o que eu chamo de “experiência de estranhamento”. Porque, por exemplo, os quarks têm o comportamento que tem? É uma postura lúdica do quarks, transformando-se sem cessar ou isso é fundamental para a “estabilidade” do mundo tal como reconhecemos? Com isso quero dizer que a “explicação” pretensamente racional oferecida pela abordagem jornalística, por exemplo, pode fazer parecer que as coisas são muito simples, quando, na realidade, não é assim.
Há, por exemplo, uma certa simplicidade no complexo, mas, em compensação, há também uma complexidade no que parece simples. Há por parte tanto de jornalistas dedicados à divulgação quanto da própria comunidade científica, carência de uma formação mais ampla e profunda em áreas como história e filosofia da ciência, sem falar em literatura e arte de modo geral. Ainda não compreendemos bem por aqui a necessidade fundamental da literatura na ciência. E, para citar apenas um fato, a meu ver preocupante: neste momento existe algo que se pode chamar de uma polícia científica (como se a ciência necessitasse disso) com pensamento, com a profundidade de um pires. Creio que, esse fundamentalismo na ciência é a contrapartida do fundamentalismo religioso (pernicioso, danoso, oportunista e obscurantista). Mas essa é uma questão que merece uma discussão mais ampla também.
AF – Qual a sua opinião sobre a importância da divulgação científica e o jornalismo científico para a sociedade?
UC – Sensibilizar a sociedade para a perspectiva da ciência, tarefas da divulgação científica de forma geral e do jornalismo científico ou de ciência em especial, é fundamental para a ampliação e consolidação de um novo substrato mental. Boa parte das pessoas tem dificuldade, por exemplo, em distinguir o “céu” de um ponto de vista religioso do céu representado pelo espaço cósmico, ou seja, abordado pela astronomia. A verdadeira ciência é libertadora e deve fazer com que o homem expresse toda sua potencialidade, a plenitude de sua humanidade, a partir da investigação dos fenômenos naturais, sociais, psíquicos, artísticos e religiosos entre outros. Discutir ciência e religião (algo como água e azeite, por exemplo, que não se misturam) continua uma enorme dificuldade. As pessoas (e a comunidade científica em boa parte) continua se expressando por pouco mais que palavras de ordem. Há uma prevalência da memória, de um positivismo superadíssimo, em detrimento da inteligência criativa. Estamos sofrendo um retrocesso perigosíssimo com o fundamentalismo religioso (e científico também) que acena para uma nova idade das trevas, como sugere Carl Sagan em “O mundo assombrado pelos demônios – a ciência como uma vela na escuridão”. Jornalistas científicos e pesquisadores científicos devem refletir profundamente sobre essa situação e se aproximarem num esforço que justifique o trabalho que fazem. Essa ideia de choques entre jornalistas e cientistas é uma situação arcaica, ligada a uma profunda incompreensão do que é e para que serve a ciência. É também um tema para uma longa reflexão.
AF – Qual a sua opinião sobre iniciativas que premiam profissionais de jornalismo que trabalham com ciência?
UC – Altamente positiva. Esse tipo de reconhecimento, longe de ser uma experiência narcisista é fundamental para criar um novo substrato mental por parte da sociedade nacional. Creio que as células troco são uma evidência clara disso e os organismos geneticamente modificados (transgênicos) são outro. A realidade, ou a percepção da realidade, está mudando muito rapidamente, o que ocorre de tempos em tempos. É um processo não uniforme ao longo da história. De outro lado, o reconhecimento da Terra como nossa moradia cósmica é de importância fundamental em termos de preservação e sobrevivência. Esta é mesmo uma questão absolutamente fascinante e importante e eu gostaria muito de ter a oportunidade de discutir essas questões todas com interessados no Estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Mas creio que nesta visita não será possível. A Fapeam faz um trabalho notável com esta premiação e poderia estudar a ampliação dessa experiência. Uma questão fundamental, para estimular novas inteligências para a ciência e mesmo contribuir para a transformação do substrato mental social (noções que as pessoas têm sobre as coisas naturais, sociais, artistas, literárias etc.) poderia ser a criação de um pequeno observatório astronômico. O céu é um laboratório fascinante e reúne todo o conhecimento que produzimos até hoje em termos de civilização humana. Se tiver oportunidade gostaria de expor esta possibilidade de maneira a que pudesse se tornar realidade.
AF – Que dicas você daria para um jornalista que queira se aventurar em divulgação científica e popularização da ciência?
UC – Aventurar-se talvez não seja a expressão mais indicada. Talvez devêssemos utilizar a palavra “dedicar-se à divulgação da ciência”. A recomendação é investir em sua própria formação intelectual. Um jornalista de ciência escreve sobre temas que vão literalmente de A a Z, ou seja, de Astronomia, por exemplo, a Zoologia e muita gente, em especial no meio acadêmico, desconfia disso. Mas tanto a Astronomia como a Zoologia não integram o universo da ciência? O que essas duas disciplinas têm em comum, apesar de parecerem tão diferentes? Ambas, e todas as outras áreas que ficam entre esses dois extremos do alfabeto são permeadas pelo método científico. Então, um jornalista científico ou divulgador científico deve estar permeado pelo método científico, a maneira pela qual podemos produzir conhecimento. Devemos ter um profundo comprometimento epistemológico no reconhecimento do que é e do que não é, algo mais fácil de falar do que fazer. Mas essa também é uma abordagem que exige espaço e tempo mais amplos para ser discutida.
Por Ulysses Varela – Agência Fapeam