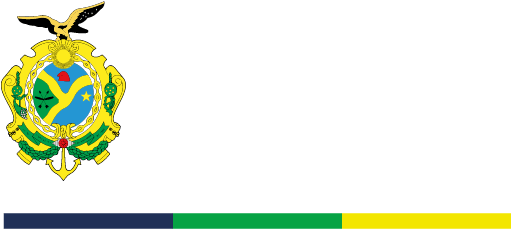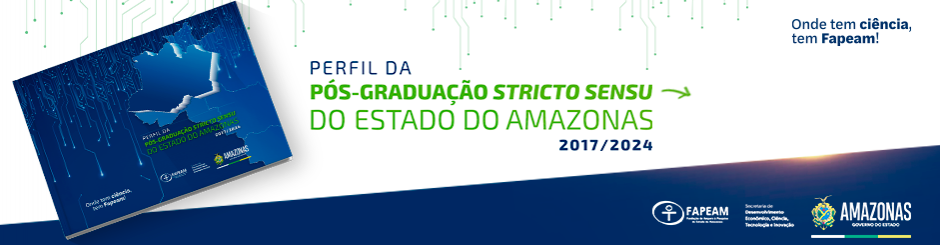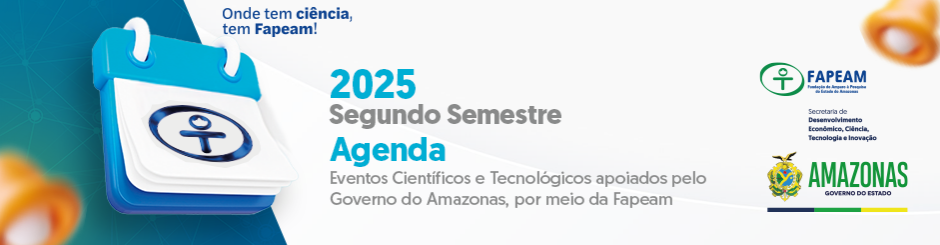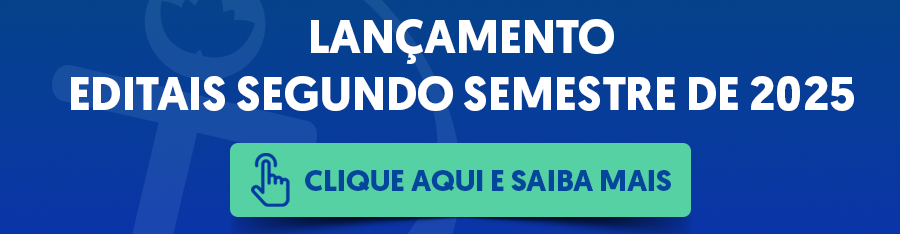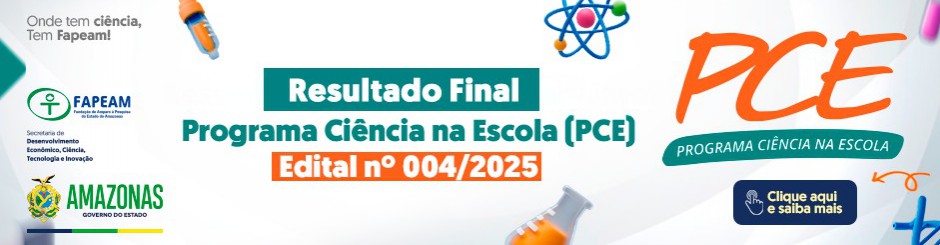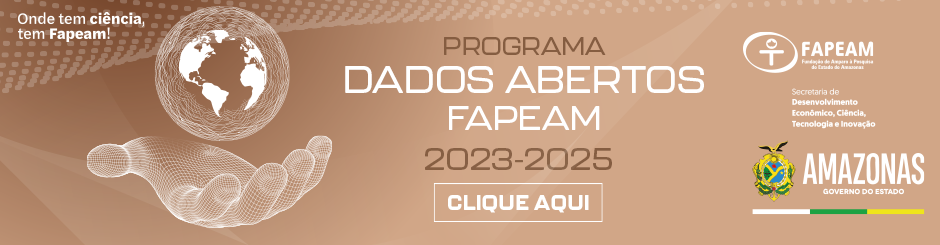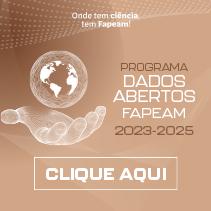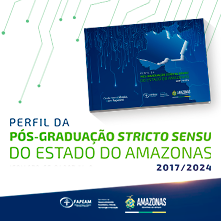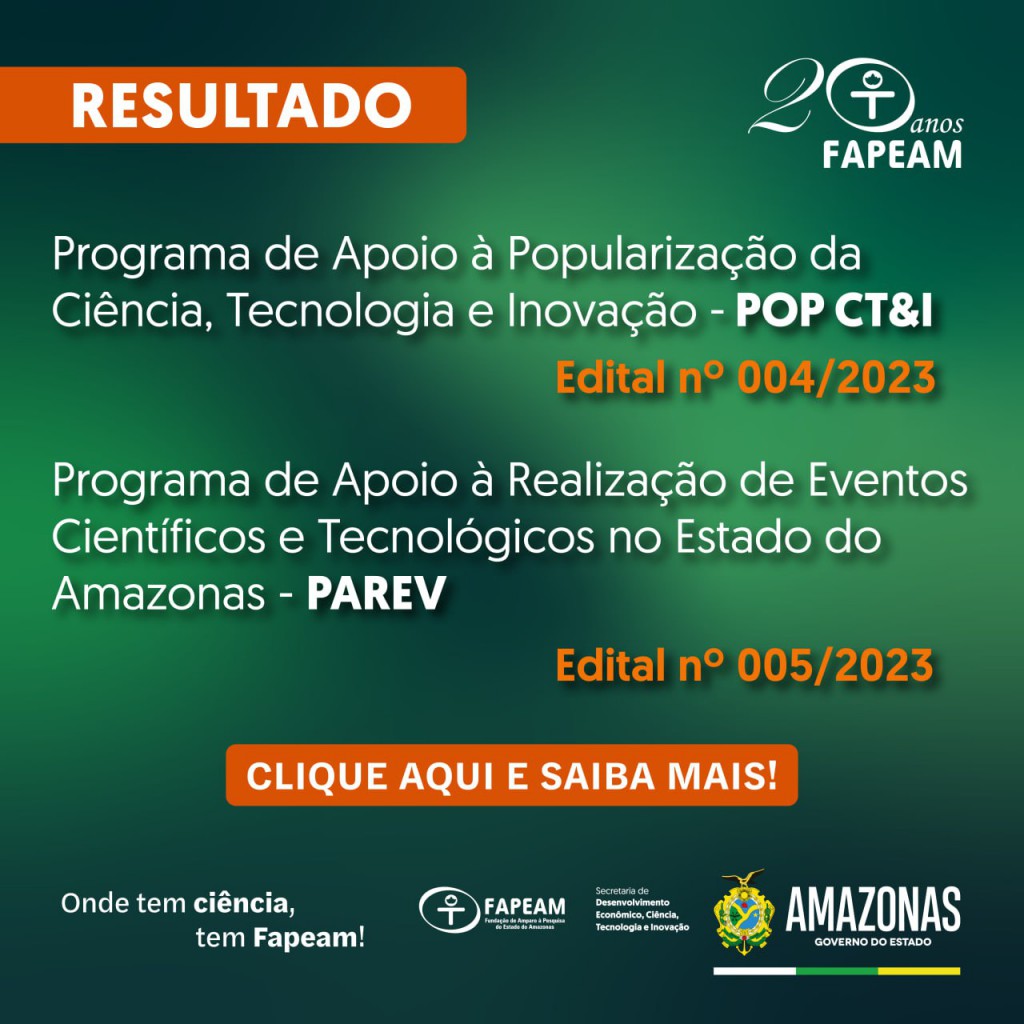A memória do medo

Crianças sobreviventes de Auschwitz. As regiões cerebrais que processam os medos e os traumas são hipocampo, córtex telefrontal e amígdala. (foto: Wikimedia Commons/ United States Holocaust Memorial Museum)
Cientistas brasileiros descobrem mecanismo que, no futuro, poderá ajudar pessoas que desejam superar memórias traumáticas. Testes feitos em ratos já se mostram bem sucedidos.
Há 70 anos, no dia 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas libertaram judeus e outros prisioneiros em Auschwitz – não apenas o mais emblemático campo de concentração capitaneado pelos nazistas, como também uma das mais profundas cicatrizes da história contemporânea. Dentre os sobreviventes, não faltam aqueles que desenvolveram traumas relacionados aos horrores vivenciados. “Ontem mesmo, li declarações de uma senhora de 95 anos que estava entre as prisioneiras; até hoje ela é perturbada por suas memórias”, conta o neurocientista Ivan Izquierdo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no Facebook
Estamos falando de um quadro psiquiátrico bem conhecido: os especialistas o chamam de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Tal condição pode ser desencadeada pelas mais diversas situações – atrocidades vividas ou testemunhadas, pequenos assaltos, acidentes dos mais variados gêneros… E pode soar trivial, mas, para muita gente, traumas profundos costumam ser um enredo de aflições constantes.
Izquierdo conta que, de cada 100 indivíduos traumatizados, entre 1 e 5 jamais conseguem superar as memórias que os atormentam. “O TEPT é um dos piores transtornos da psiquiatria”, diz ele. “O paciente fica aterrorizado por suas memórias durante boa parte do tempo. Não consegue viver, dormir, fazer sexo e, às vezes, nem mesmo se alimentar. A condição, em alguns casos, leva as pessoas ao suicídio.”
Mas Izquierdo, juntamente com as neurocientistas Jociane Myskiw e Cristiane Furini, acabam de publicar um artigo no qual descrevem, pela primeira vez, um mecanismo capaz de inibir as memórias traumáticas – por enquanto, apenas em ratos. O trabalho está no periódico norte-americano Proceedings of the National Academy of Science.
Superação do trauma
Os pesquisadores da PUCRS fizeram com que um grupo de ratos passasse por uma experiência traumática. Eis como: colocaram os animais em uma gaiola especial que transmitia baixos estímulos elétricos – choques – às patas dos roedores. Em seguida, eles eram devolvidos a suas gaiolas-moradia. No dia seguinte, porém, eram recolocados no chão elétrico, mas sem o estímulo elétrico.
Nesse momento, os bichos se mostravam amedrontados – pois suas memórias haviam de fato registrado que aquele era um território agressivo. Estava consolidado o trauma. Consequência: os ratos traumatizados simplesmente não mais se moviam pela gaiola especial. “Eles ficavam paralisados, duros, com os músculos tensos”, observa Izquierdo. Afinal, estavam com medo.
Acontece que a um segundo grupo de ratos foi administrada uma droga: o muscimol. É um psicoativo derivado de cogumelos do gênero Amanita, conhecidos pelo famoso ‘barato’ – alucinações. Essa substância foi aplicada diretamente no hipocampo dos animais. E os resultados foram surpreendentes. Os ratos desse grupo, mesmo após terem sofrido o trauma, conseguiram caminhar livremente pela gaiola especial. Ao contrário dos demais, eles não demostraram comportamento de medo; e não pareciam lá tão preocupados com a ideia de que poderiam levar novos choques.
“O que conseguimos foi exatamente inibir a evocação da memória traumática”, analisa Izquierdo. “O animal conviveu com o estímulo que desencadeia o trauma; no entanto, não sofreu o estresse que dele deriva”, diz o neurocientista da PUCRS. “É a primeira vez que se observa isso.”
O muscimol, porém, não é novidade. Essa droga já é conhecida há décadas. Mas a associação entre ela e a inibição de memórias traumáticas é inédita para a ciência. “A substância imita um neurotransmissor do cérebro de mamíferos”, explica Izquierdo. “Mas é impossível administrá-la a humanos”, ressalva o pesquisador. Motivo: ela prejudica – e muito – as sinapses (conexões) cerebrais. Com ela, os neurônios são gravemente prejudicados.
Ainda não se sabe como ou quando esses conhecimentos poderão resultar em novas tecnologias ou tratamentos para pacientes acometidos por TEPT.
Leia a matéria completa aqui
Fonte: Ciência Hoje, por Henrique Kugler