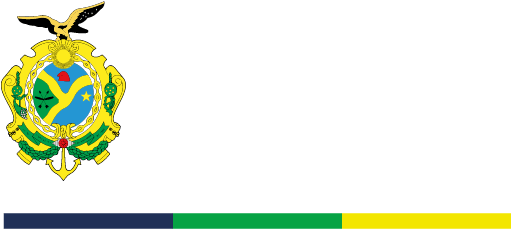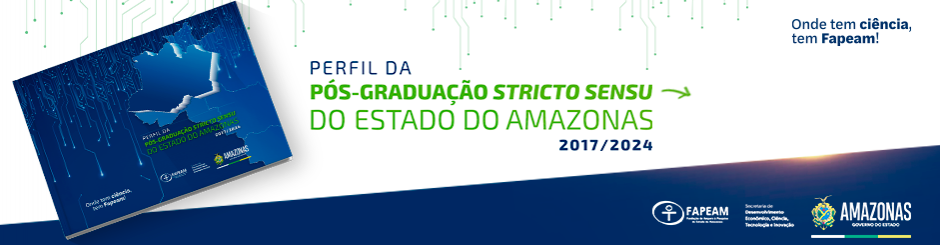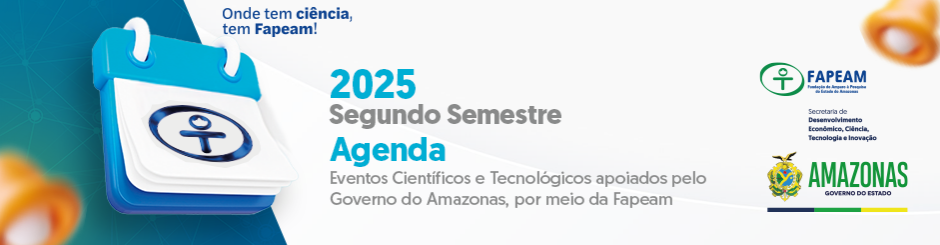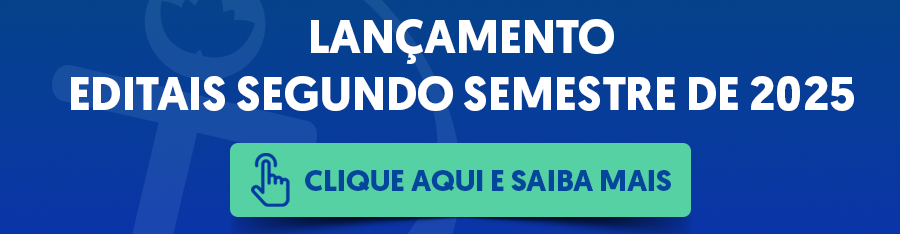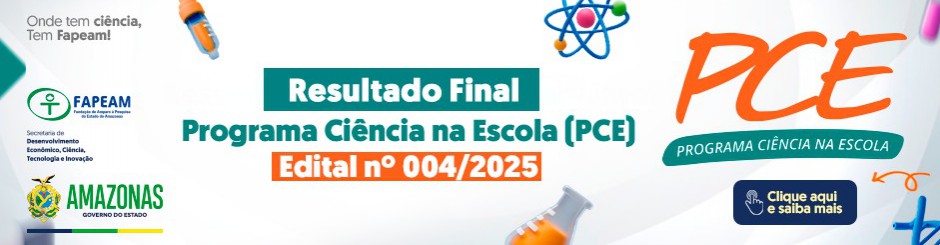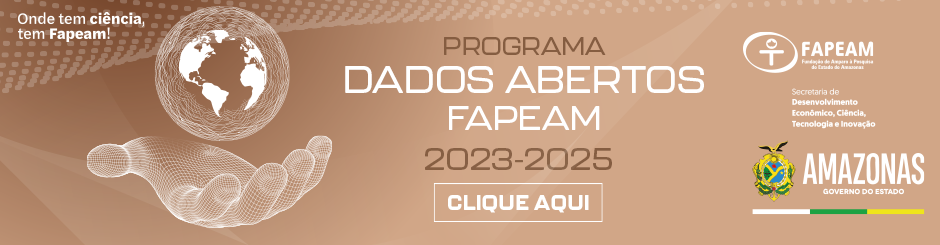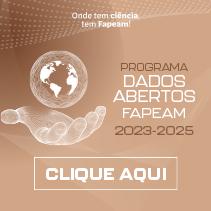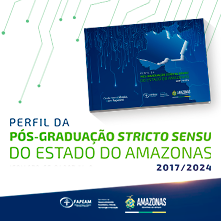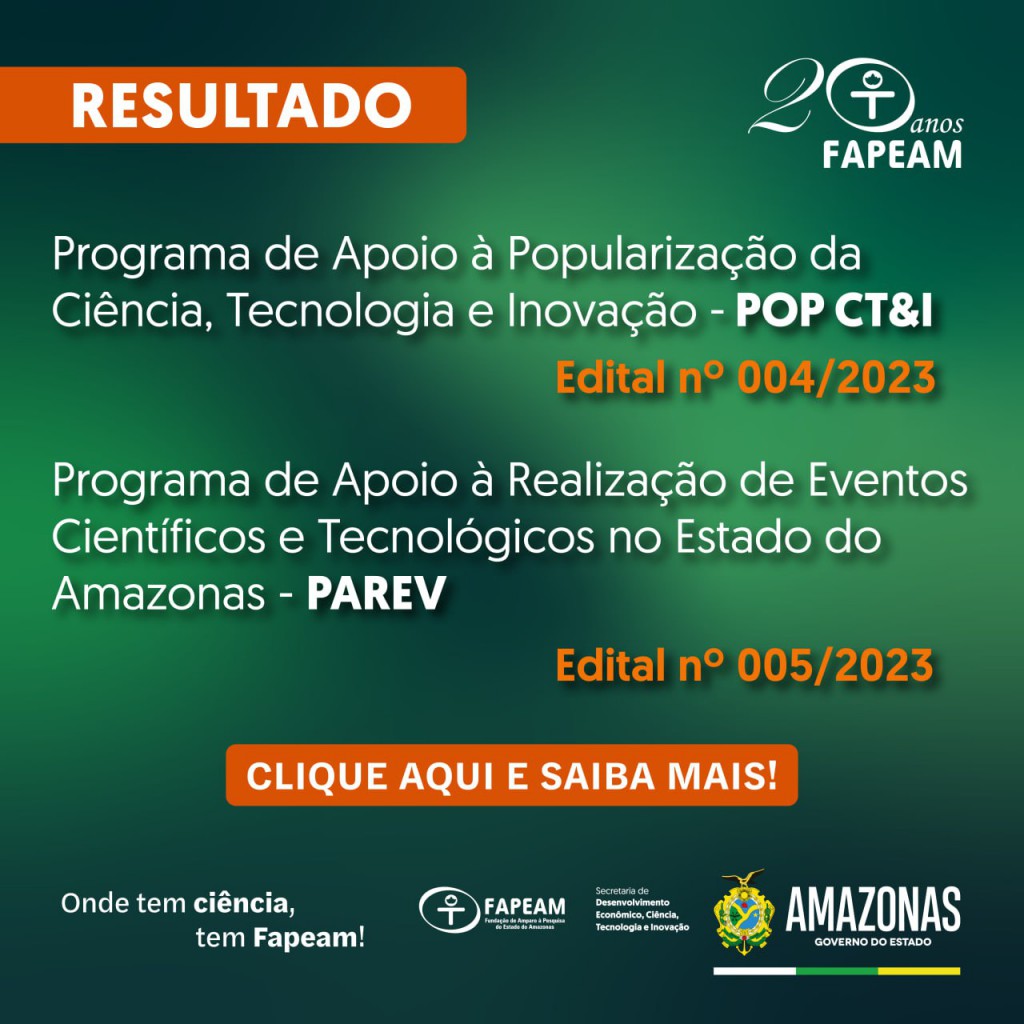Amazônia pode estar absorvendo menos carbono do que se estimava
A afirmativa vem de pesquisador do Programa de Larga Escala da Biosfera Atmosfera da Amazônia (LBA)
Novas pesquisas realizadas na Amazônia indicam que as estimativas de absorção de gás carbônico (CO2) pela floresta podem estar superestimadas. Dados de trabalhos anteriores mostravam que a floresta absorvia cerca de quatro toneladas de CO2 por hectare ao ano. Entretanto, para que a vegetação absorvesse toda essa quantidade, as árvores teriam que ser “gigantes”, o que não é aceitável biologicamente pelos cientistas. Além disso, quando eles foram comparar os números das medidas físicas com as biométricas (pesos corporais das árvores), feitos por ecólogos e biólogos, os mesmos não convergiam, principalmente, na Amazônia.
Uma das respostas encontradas pelos pesquisadores para explicar os resultados superestimados foi de que projetos anteriores utilizaram a metodologia da “Correlação de Vórtices Turbulentos”, que corresponde à circulação vertical dos ventos dentro e acima da floresta, para medir as trocas gasosas entre floresta e atmosfera. Contudo, para Júlio Tota, pesquisador do Programa de Larga Escala da Biosfera Atmosfera da Amazônia (LBA, sigla em inglês), ela não é a ideal porque assume a Amazônia como homogênea e uniforme topograficamente, o que é equivocado. Dessa forma, comprometendo as estimativas para a região.
Instigado pela questão, Tota procurou desenvolver uma nova metodologia que mitigasse o problema da variabilidade da vegetação e da topografia da Amazônia na “Correlação de Vórtices Turbulentos”. Depois de anos realizando experimentos, percebeu que um processo atmosférico natural chamado de “Transporte horizontal ou advecção de CO2” influencia nas trocas gasosas entre a floresta e a atmosfera e, por isso, pode ser um ponto de equilíbrio para a coletada de dados no modo tradicional. “Comprovei que a aplicação paralela da teoria do transporte horizontal pode corrigir equívocos em coleta de dados por meio da correlação de vórtices”, explica.
A pesquisa identificou que o escoamento horizontal de carbono causado pelos ventos transporta grandes quantidades de CO2 para longe da área de medição das torres. Ou seja, provoca fuga de carbono. Ao medir esse transporte, associado aos dados coletados tradicionalmente, o pesquisador reduz o risco de erros na medição de carbono.
O resultado é parte de trabalho de doutorado do pesquisador, que recebeu o nome de “Estimativa do Transporte de CO2 em Florestas Tropicais ”, por meio do qual procurou avaliar a participação e importância do transporte horizontal do gás para o balanço de carbono na Amazônia. Para isso, encontrou o cenário perfeito nas torres experimentais do LBA, que fazem uso do método de correlações de vórtices turbulentos.
Tota é estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente, um convênio entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).
A pesquisa de Júlio Tota, assim como muitas outras, será apresentada durante a Conferência Científica Internacional: Amazônia em Perspectiva, Ciência Integrada para um Futuro Sustentável. O encontro será realizado no período de 17 a 20 de novembro, em Manaus.
Modelo questionável
Júlio Tota ressalta que a correlação de vórtices turbulentos pode ser aplicada em terrenos não inclinados, o que não ocorre na região amazônica. “A metodologia foi testada há algumas décadas em áreas agrícolas homogêneas, bem como em terrenos planos. Os resultados foram promissores. Entretanto, seu uso se expandiu devido às vantagens de implementação por meio não-destrutivo. Com isso, passou a ser usada em áreas de florestas e com terrenos complexos. Hoje, há redes de torres nos Estados Unidos (EUA), Europa, Ásia, Austrália e Brasil. Mas, após vários estudos, a comunidade científica internacional já reconhece as limitações de seu uso”, alerta.
Pesquisa
A pesquisa foi realizada entre 2003 e 2005, na Floresta Nacional do Tapajós (Flona), em Santarém (PA), e em Manaus, de 2005 a 2006. Durante o primeiro ano, os trabalhos se concentraram na Flona. Na ocasião, foi criado e implementado um sistema de monitoramento com sensores ao redor das torres para determinar o fluxo horizontal de CO2 nos primeiros dez metros acima do solo.
“Foram feitas medidas dos ventos e das concentrações de CO2 dentro e acima da floresta. O resultado foi a grande variabilidade das concentrações de CO2 horizontal e vertical para períodos diurnos e noturnos. Notou-se que os ventos escoam dentro da floresta conforme a topografia do terreno”, salientou.
Em outras palavras, o CO2 é transportado da área da torre em direção a locais mais baixos do terreno, acumulando ao longo da noite. Em seguida, o carbono transportado horizontalmente é transferido verticalmente para a atmosfera sem ser detectado pelas medidas das torres, logo ao amanhecer e durante o dia, com o aquecimento e ventos verticais mais intensos.
Apesar da inclinação do terreno ser considerada pequena na área de floresta da Flona Tapajós, de acordo com o pesquisador, os resultados mostram que as torres de monitoramento não são capazes de capturar todos os fluxos dentro da floresta, por isso, é preciso considerar os escoamentos horizontais de carbono.
O pesquisador explicou que os dados foram comparados com as informações geradas pelo sistema de monitoramento da torre. Isso foi necessário porque o percentual da respiração total do ecossistema (todo o CO2 produzido na floresta) tem que estar próximo do que é liberado no topo da torre, somando-se todas as fontes possíveis dentro da floresta.
“Os resultados mostraram um déficit de CO2. Ou seja, há uma ‘fuga’ que não estava sendo detectada e que está indo para outras áreas distantes da área de medição da torre”, destacou e acrescentou que o transporte horizontal representa cerca de 70% da diferença que existia.
Em Manaus, as medidas foram feitas sobre uma área de floresta com terreno inclinado e complexo, quando comparado com Santarém. No local, foi possível determinar a variabilidade dos ventos nas estações seca (menos chuvosa) e chuvosa. “Os resultados preliminares da pesquisa indicam uma maior complexidade de circulações atmosféricas que interagem e afetam a representatividade das medidas na torre do LBA”.
Na área de estudo, por exemplo, o pesquisador disse que durante a noite aparece um escoamento de ar dentro da floresta contrário às circulações clássicas de vale e montanha, onde espera-se que o ar mais denso e mais frio no topo da elevação desça para as áreas mais baixas. Entretanto, em Manaus, acontece o contrário. O ar sobe durante a inclinação à noite. “Isso tem implicações e conseqüências para o balanço do carbono, o que torna ainda mais complicado e desafiador entender as trocas de energia, água e CO2 na Amazônia”, enfatizou.
Ele explicou que uma das alternativas para solucionar a questão em Manaus é o uso de modelagem numérica da circulação atmosférica, o qual inclua processos biológicos e de transporte sobre áreas de topografia complexa. Mas aí, segundo Tota, é uma outra história, a qual fará parte de sua segunda parte da tese de doutoramento.
Por Luis Mansuêto – Agência Fapeam