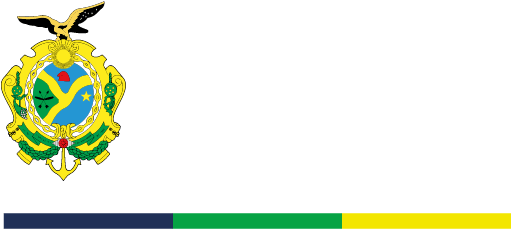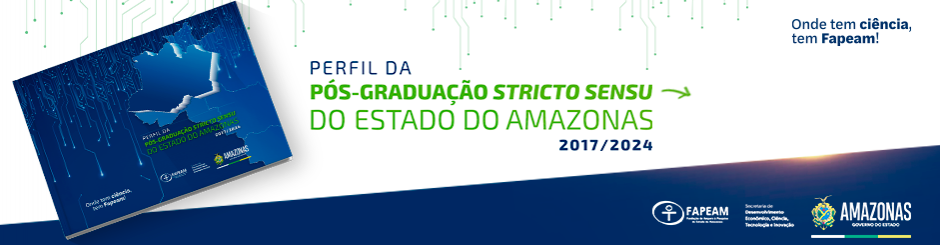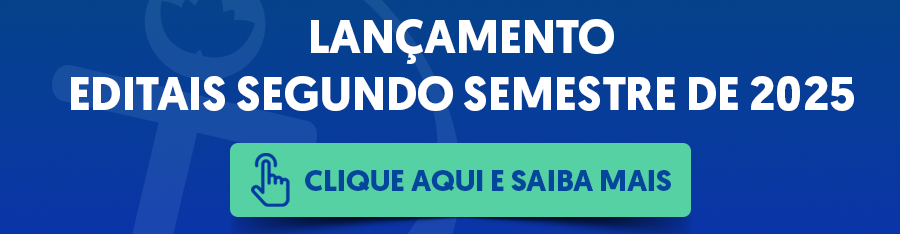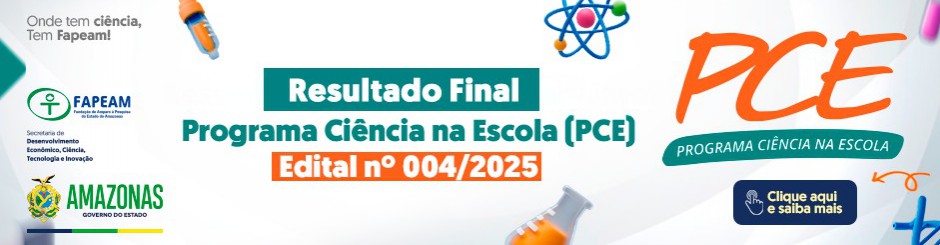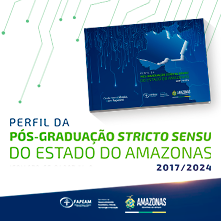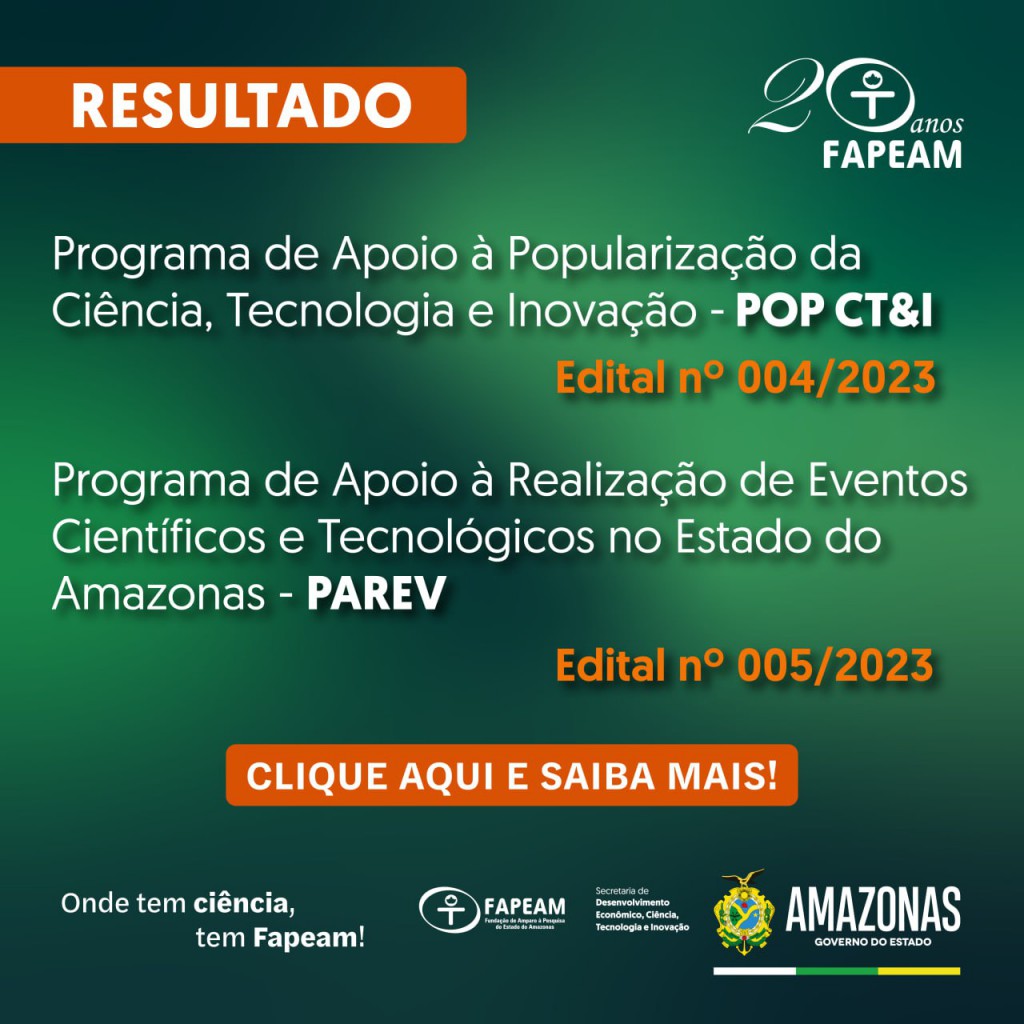Conhecimento dos povos tradicionais do Amazonas
24/09/2012 – Várias são as formas que os povos tradicionais da Amazônia utilizam para expressar suas culturas, seus saberes e crenças. Esse conhecimento que ultrapassa os limites do grupo por meio das gerações é objeto de estudo constante de antropólogos e outros pesquisadores.
Nesse sentido, algumas políticas públicas têm propiciado aos indígenas a inserção em instituições de ensino e pesquisa, e isso nos apresenta uma nova realidade. Desse modo, o conhecimento que antes era restrito aos grupos indígenas passa, então, a ser transmitido à sociedade por meio de estudos e pesquisas agora realizados por eles.
Um exemplo disso é o mestre em Antropologia Social, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), João Rivelino Rezende Barreto, que é índio da etnia Tukano. Ele apresentou um estudo inédito intitulado ‘Transformação de Coletivos Indígenas no Noroeste Amazônico: Do Mito à Sociologia das Comunidades’, como dissertação de mestrado, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.
Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no Facebook
A pesquisa apresenta a etnografia do grupo de Barreto e aborda os processos de formação e transformação social no universo Tukano em seus próprios termos. Duas teorias sobre esse conhecimento foram apresentadas no estudo. A primeira, a teoria Úukuse, que descreve o contexto mitológico Tukano, o mito sobre a formação cosmológica da terra, da água e toda a formação da natureza.
A segunda teoria, Muropau Uusetise, fala sobre o contexto sociológico da formação dos grupos Tukano. “Essa segunda teoria está ligada à anterior, mas fala como se formaram esses grupos indígenas, como aconteceu, onde surgiram e das diferenças de um para o outro”, explicou o indígena, que foi o primeiro Tukano a concluir o mestrado em Antropologia da Ufam.
A pesquisa teve como referência a Comunidade São Domingos Sávio, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Tiquié, a 852 quilômetros da capital do Amazonas. “Esse trabalho foi uma investigação sobre a forma como pensam os integrantes do meu grupo, apresento aqui os pensamentos e os conhecimentos dos Tukano para a sociedade e também uma forma de realizar, a partir desses conhecimentos e pensamentos, um diálogo com a comunidade científica”, afirmou.
A pesquisa de campo de Barreto foi viabilizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Brasil Plural, financiado pela FAPEAM e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa foi concebida dentro de um dos aspectos das redes de pesquisa do INCT Brasil Plural, que vão da arte, processos sociais, museus, patrimônios plurais, ambientais, além da rede de saberes que abrangem a arte, a educação, as línguas e etnicidades indígenas.
Trajetória
Barreto é filósofo e teve sua formação dirigida por salesianos, o que segundo ele, fez despertar seu interesse em formular um estudo acerca do tema de sua pesquisa. “O meu interesse pelo tema surgiu ainda na graduação, isso aconteceu em 2004, quando estava na faculdade de Filosofia. Procurei sair do contexto religioso e comecei a pensar minha própria cultura, as unidades sociais do noroeste amazônico, os grupos, as tribos que os antropólogos pensaram e que são diferentes. O trabalho traz algumas diferenças como o quadro genealógico e as teorias que apresentamos”, destacou.
A pesquisa de Barreto teve início em 2009, quando concorreu para o mestrado em Antropologia da Ufam. “Concorri com mais 72 pessoas pelo processo normal, sem cotas, pois naquele ano ainda não tinha o limite de cotas e agora conclui esse trabalho mostrando que podemos pensar as nossas teorias e valorizar a nossa cultura”, afirmou.
Para o pesquisador, esse trabalho acadêmico é extremamente importante para a preservação do conhecimento e pensamento Tukano. “É importante, pois vejo que os indígenas mais jovens estão perdendo o interesse sobre as questões relacionadas ao conhecimento do nosso povo. Isso não é bom, os mais velhos podem transmitir esse conhecimento, mas é necessário que haja interesse por parte dos jovens e isso está se tornando cada vez mais raro”, lamentou. Ele falou ainda da relevância da atuação das instituições de ensino e pesquisa na viabilização e apoio dos trabalhos de campo.
Etnoastronomia
O físico, astrônomo e pesquisador do Museu da Amazônia (Musa), Germano Bruno Afonso, que trabalha com etnoastronomia concorda com a afirmação de Barreto. Para ele, é necessário e importante fazer um resgate desse conhecimento tradicional com a participação dos indígenas, e aqui isso tem se intensificado, principalmente com o apoio da FAPEAM e do CNPq.
“Até pouco tempo, tínhamos escasso conhecimento a respeito de alguns temas do universo indígena, o que sabíamos era sobre estudos realizados por pesquisadores de fora. Esses investimentos feitos por instituições como a FAPEAM e o CNPq nos possibilitam retornar esse conhecimento para os indígenas mais jovens”, afirmou.
Entre os trabalhos voltados ao resgate do conhecimento, Afonso destaca o Observatório Solar Indígena, que ele ajudou a construir na cidade de Dourados (MS). “Ajudei a construir na universidade e na aldeia o observatório indígena, que teve muita receptividade e juntamente com a dança e a comida típica, os ‘índios urbanos’ vão recuperando sua cultura, a ciência indígena e a sua tradição. A origem do Universo, a criação do homem e muitos outros conhecimentos podem ser conhecidos através da observação do céu. O céu não tem tamanho. Minha visão do céu é infinita. Aprendi muita coisa com meus pais e depois com os pajés, convivendo diariamente com eles”, salientou o astrônomo.
Afonso explica que os índios definem por meio da astronomia própria de cada grupo o tempo de colheita, a contagem de dias, meses e anos, a duração das marés e até a chegada das chuvas.
Ele explica que uma parte desses conhecimentos foi resgatada por meio de documentos históricos. “São documentos que relatam a importância da astronomia no cotidiano das famílias indígenas, alguns vestígios arqueológicos, tais como a arte rupestre e os monumentos rochosos, que possuem conotação astronômica, diálogos informais e observações do céu com pajés de todas as regiões brasileiras”, afirmou.
Atualmente o pesquisador está desenvolvendo o projeto ‘Etnoastronomia dos povos indígenas do Amazonas’, com financiamento da FAPEAM e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa de Desenvolvimento Científico Regional (DCR – Amazonas – Fluxo Contínuo).
Diversidade sociocultural
Outras instituições e programas de pesquisa buscam aprofundar o conhecimento sobre a diversidade sociocultural do Brasil, tal como o Instituto Brasil Plural (IBP), criado no âmbito dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) e financiado pela FAPEAM e CNPq. “O Instituto iniciou suas atividades em 2009, a partir de uma rede de pesquisadores entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Amazonas e abriga pesquisadores de diferentes áreas e especialidades da Antropologia”, explicou a coordenadora do IBP, Deise Lucy Oliveira Montardo.
A meta, segundo a pesquisadora, é retratar por meio de uma perspectiva antropológica, as diferentes realidades brasileiras em toda sua complexidade. “Os resultados desses trabalhos devem subsidiar políticas públicas brasileiras e a formação de profissionais para atuar junto às populações estudadas, inclusive no âmbito acadêmico”, destacou.
“Trabalhamos em diferentes campos e especialidades para desenvolvermos programas de pesquisas, ações educacionais e de intervenção, no âmbito de vários segmentos. São pesquisas comparativas na região amazônica e no sul do Brasil, com foco no conhecimento de suas diferentes populações, o que favorece as trocas científicas entre instituições e pesquisadores de diferentes regiões”, explicou.
Essa rede de pesquisa visa articular projetos que buscam analisar estratégias indígenas de reelaboração étnica e cultural e de inserção igualitária em redes extralocais de trocas e de circulação de conhecimentos, envolvendo o campo das artes, da escolarização, do turismo, dos esportes, da literatura e do Ensino Superior. Os projetos visam principalmente apoiar a realização de pesquisas de campo de mestrandos, doutorandos e doutores, vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e à Ufam, para a análise de contextos indígenas específicos.
O IBP engloba o projeto ‘Compreensões Antropológicas sobre Conhecimentos Nativos: um diálogo em rede’, coordenado por Antonella Tassinari, que reúne dez pesquisadores vinculados à UFSC; o projeto ‘Arte e educação intercultural’, coordenado por Deise Lucy Oliveira Montardo, que reúne quatro pesquisadores vinculados à Ufam; o projeto ‘Reafirmação Étnica e Territorial na Região do Baixo Rio Tapajós’, de Edviges Marta Ioris, pesquisadora vinculada à UFSC; e o projeto ‘Arte verbal, produção escrita e educação escolar indígena em situação de multilinguismo: o Noroeste Amazônico’, de Frantomé Pacheco, vinculado à Ufam.
A esses se juntou o projeto já aprovado pelo IBP, coordenado por José Exequiel Basini Rodriguez, da Ufam, intitulado ‘Alteridades que fazem pensar: as comunidades do baixo Uaupés e as agências vinculantes’, cuja temática está relacionada à discussão proposta nesta rede de pesquisa.
Ao articular pesquisadores da UFSC e da Ufam que vêm trabalhando com temáticas semelhantes em relação a populações indígenas na Amazônia e no Sul do País, o IBP consolida vínculos acadêmicos e compartilha resultados de pesquisas desenvolvidas em contextos específicos com vistas a reconhecer processos sociopolíticos semelhantes no quadro da pluralidade do Brasil.
Os estudos são desenvolvidos por pesquisadores vinculados à Ufam, Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).
Rosilene Corrêa – Agência FAPEAM