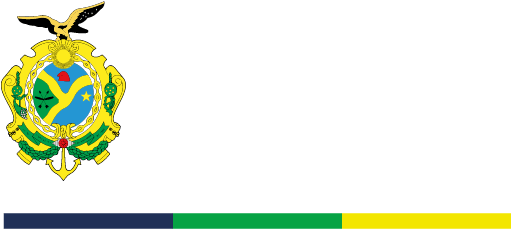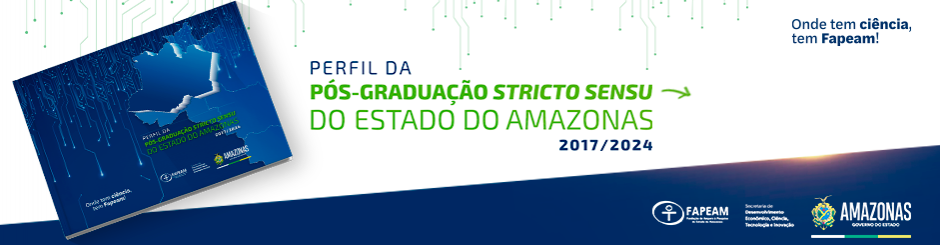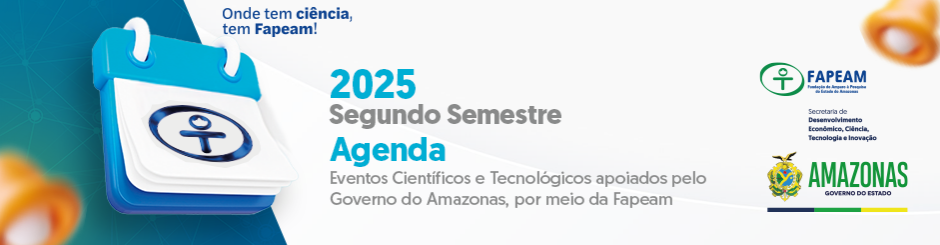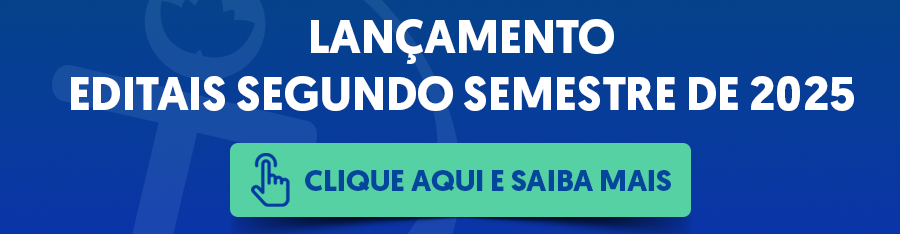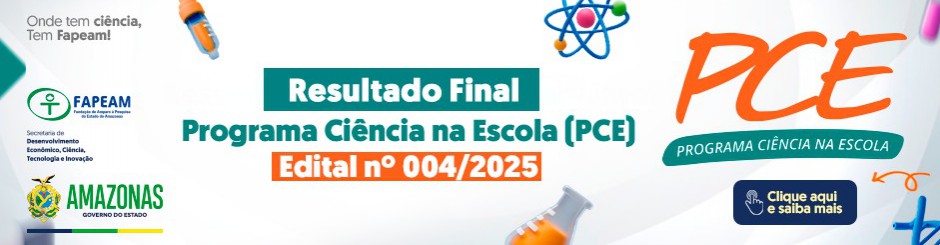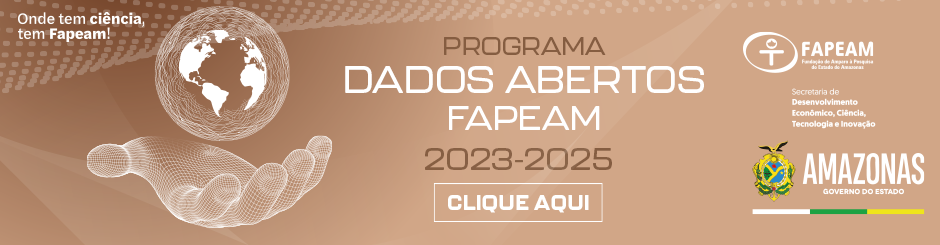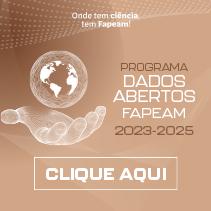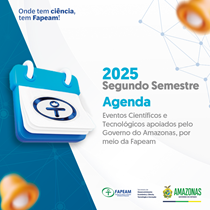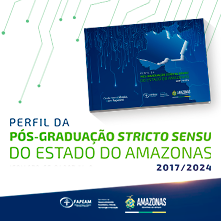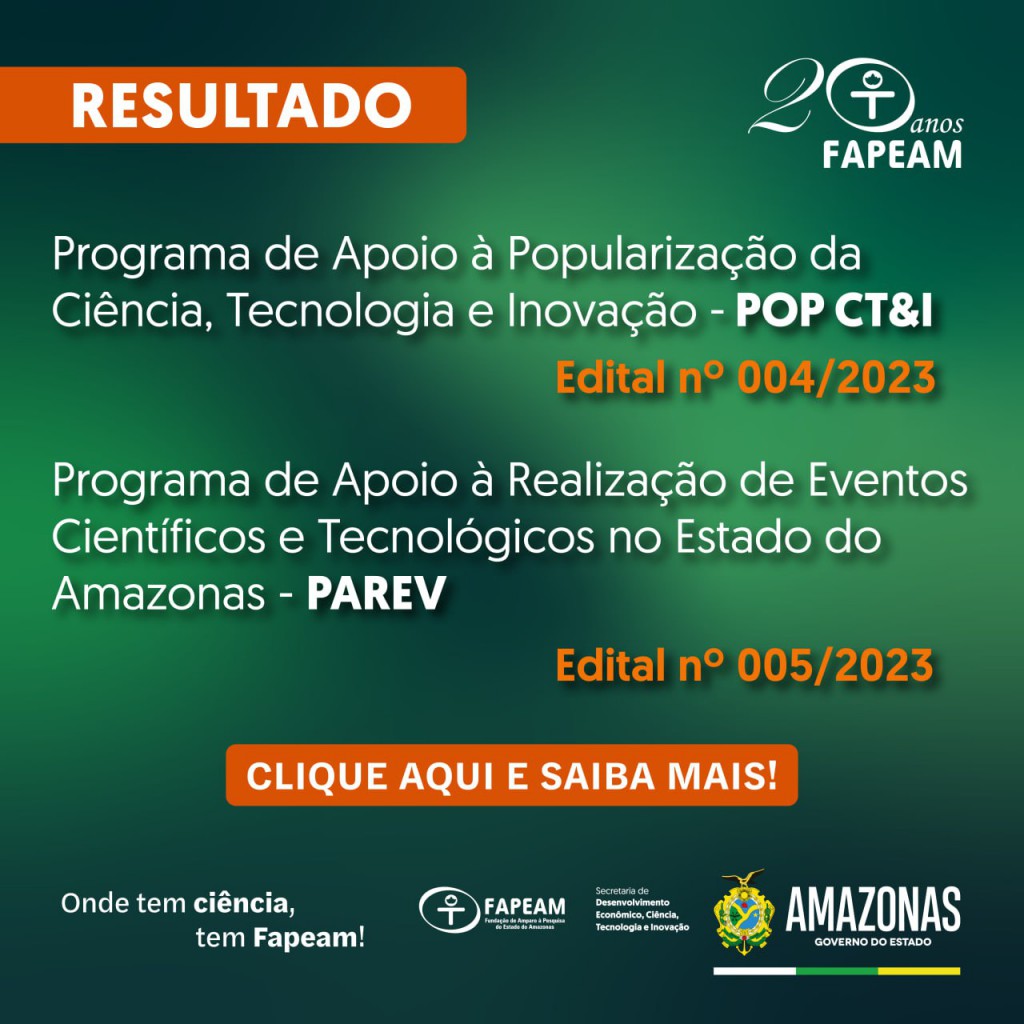Índios do Alto Rio Negro ainda vivem em regime de semi-escravidão
A lacuna na oferta de políticas públicas de desenvolvimento regional orientadas pelas premissas de desenvolvimento humano e ambiental leva os povos indígenas à subordinação e a um processo de semi-escravidão de trabalho. O alerta é feito pelo pesquisador Tadeu Oliveira Coimbra, da etnia baré, com base nos resultados do estudo realizado no Alto Rio Negro, na região de São Gabriel da Cachoeira, onde pesquisou o processo de produção e comercialização do Cipó-titica, matéria-prima para indústrias moveleiras do Sudeste brasileiro.
A pesquisa “Novos Tempos e Auto-Sustentabilidade: Os índios do rio Xié no Alto Rio Negro” foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia (PPGSCA), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).
No rio Xié, os grupos étnicos com maior densidade demográfica são os Baré e os Werekena, ambos pertencendo ao tronco lingüístico Aruak. Como indígena Baré, o envolvimento de Alfredo em estudar o extrativismo na região do rio Xié remonta aos tempos em que seus familiares, donos de casas comerciais em São Gabriel da Cachoeira, Tabocal, Cucuí e pequenos entrepostos comerciais no rio Içana regateavam com os Baré do rio Negro; com os Baniwa do rio Içana e com os Werekena, Baré e Baniwá no rio Xié, precisamente nas nove comunidades existentes na localidade.
“Minha participação político-partidária junto às lideranças indígenas nas eleições municipais, em luta pela implantação de uma política diferenciada nas escolas da região, não foi suficiente para entender o contexto da exploração econômica praticada no interior do município, onde os extratores indígenas quase anônimos produzem grandes quantidades de produtos vegetais em troca de quase nada. Assim, como apreender o destino das margens de lucro final desta produção comercial? A quem interessa o sistema extrativista do Alto Rio Negro?”, questiona o pesquisador, acrescentando que essa "situação" o levou a estudar o processo.
“Eu me sentia impotente e indignado frente à exploração”, diz. Outro aspecto também o comovia: o fato de o aviamento ainda ser praticado na região, num sistema de troca, compra e venda de produtos extrativos e produtos industrializados que margeiam o limite da sobrevivência. “Tais trocas são viabilizadas através da submissão, do medo e ameaças ao trabalhador e da exploração do seu trabalho”.
A análise do processo de produção e de comercialização do Cipó-titica pelas populações indígenas do Xié revelou como a matriz-econômica do extrativismo vegetal tornou-se, historicamente, uma forma de exploração econômica com graves conseqüências sociais para os indígenas. Esses elementos contribuem para a manutenção do sistema de aviamento no mundo contemporâneo.
Espécie facilmente encontrada nas áreas de florestas naturais de terra firme, o Cipó-titica (Heteropsis flexuosa) produz fibras de excelente qualidade, bastante utilizadas na indústria moveleira como matéria-prima para a fabricação de móveis, sendo empregada ainda na confecção de artefatos e objetos artesanais.
A atividade econômica baseada no extrativismo vegetal foi realizada ao longo do século 20 através do sistema de aviamento. Esse tipo de exploração dos produtos florestais na região continua sendo o principal suporte econômico da população, envolvendo a compra, troca e venda de matéria-prima e de mercadorias industrializadas, ainda fundamentadas na figura do regatão ou do “patrão”. “A mercadoria é a moeda de troca que rege a produção extrativa do cipó que, ao fim da escala do processo produtivo, estará a serviço de indústrias moveleiras da Região Sudeste que centralizam quase toda a compra de cipó da região”, afirma Alfredo.
Por pressão da demanda, o Cipó-titica já é o tipo de fibra mais produzida na região do Xié, tendo substituído a piaçaba na extração vegetal. Porém, as leis modernas de regulamentação comercial praticamente não existem na região. “Emprega-se o mesmo modelo econômico e os mesmos mecanismos de controle de outrora. Há mais de um século, estas populações praticam o extrativismo vegetal, em regime de violência física, moral, cultural e econômica”, enfatiza Alfredo.
A dinâmica da exploração garante não somente a produção atual, mas também prepara o futuro, como coloca o pesquisador. Para dar conta produção extrativista e da agricultura familiar, o produtor é obrigado a envolver mulheres e crianças da família, comprometendo as atividades escolares e, no limite, a própria capacidade de organização política da comunidade pela intensa ocupação no extrativismo, em prejuízo de outras atividades da vida política, social e religiosa.
Para o pesquisador, os projetos-pilotos de desenvolvimento sustentável ainda não são uma alternativa concreta para a região como um todo, pois atingem somente alguns grupos locais, carecendo de ainda de amplo investimento técnico-científico de órgãos públicos capazes de implantar e desenvolver tecnologia em prol do desenvolvimento humano na Amazônia.
“Nesse caso, o desafio colocado aos extratores indígenas e seus parceiros sóciopolíticos seria a produção de estratégias de inserção mais justas no mercado, driblando a conjuntura desigual hoje existente. Ao que tudo indica, a saída para os problemas enfrentados pelos povos do Xié passa pela reorganização de relações construtivas com a natureza e pela retomada da autonomia perdida para o capital empresarial”, conclui Alfredo.