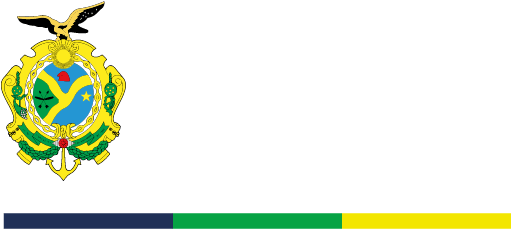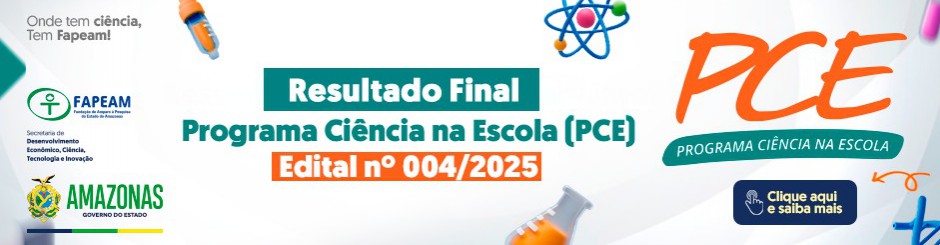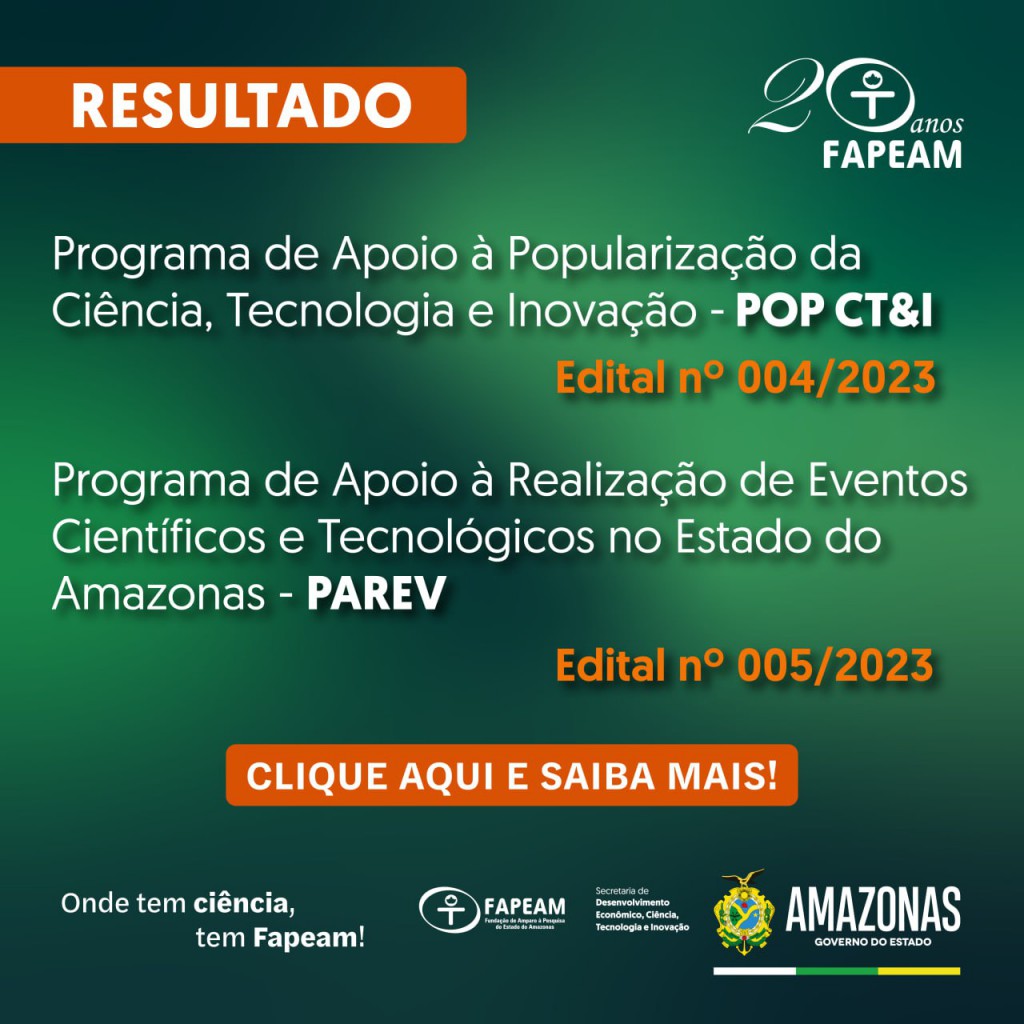Biopirataria causa prejuízo na Amazônia
Karla Correia, Fernando Exman e Clara Ponte escrevem para a “Gazeta Mercantil”:
Absoluto descontrole oficial sobre a atuação das organizações não-governamentais (ONG), ausência do governo nas comunidades mais carentes da região Norte, legislação pouco adequada, mais conivência do governo e da comunidade acadêmica brasileira com interesses externos têm feito da Amazônia o celeiro de uma riqueza monumental, que beneficia uma massa de estrangeiros que circula com desenvoltura na floresta.
A biopirataria na região é a base de um mercado que movimenta US$ 100 milhões por ano nas indústrias química, farmacêutica e cosmética, segundo estimativa do Ministério do Meio Ambiente. E o Brasil não vê nem um centavo desses recursos.
"Existem espaços na Amazônia em que brasileiro não entra, tem o acesso impedido", diz o secretário de Biodiversidade e Florestas do ministério, Rogério Magalhães.
Ele cita como exemplo o instituto norte-americano de pesquisa Smithsonian, conveniado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Segundo ele, em 2001 o Smithsonian fechou um espaço no terreno do Inpa, impedindo a entrada de qualquer brasileiro.
"Ninguém sabia o que era pesquisado lá. Era como se fosse um território norte-americano fincado em plena Amazônia. Em um espaço desses, qualquer espécie pode ser analisada sem autorização do governo, sem qualquer tipo de controle", lembra Magalhães.
Um dos casos mais famosos de pirataria com espécies nativas brasileiras foi o registro da marca cupuaçu pela empresa japonesa Asahi Foods, em 2002.
O processo brasileiro contra a empresa, que perdeu o direito à patente em 2004, se transformou em bandeira nacional contra a biopirataria mas não conseguiu evitar que outros produtos fossem registrados por empresas estrangeiras.
O cupulate, chocolate feito da semente do cupuaçu, e o açaí são hoje alvos de acirrada disputa judicial entre Brasil e Japão.
O consultor ambiental Eduardo Martins explica que a dificuldade de comprovação, por falta de fiscalização e de legislação apropriada, e a falta de investimento em pesquisa e registros de produtos nativos favorecem o crime de biopirataria.
Ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Martins cita o jaborandi como outro alvo clássico de biopirataria.
A planta é utilizada há séculos por indígenas no preparo de chás diuréticos e expectorantes. Hoje, o laboratório Merck detém a patente sobre o isolamento de cristais de pilocarpina a partir da planta.
Desde o início da década de 90, a multinacional farmacêutica é dona de um terreno de 2.250 hectares no município de Barra do Corda, no Maranhão, voltado para o cultivo de jaborandi, planta cujo princípio ativo, a pilocarpina, é utilizada em tratamentos de calvície e no controle do glaucoma – doença ocular que pode provocar cegueira.
Existem outros 20 registros de patente em todo o mundo citando princípios ativos do jaborandi.
"Quando uma empresa farmacêutica consegue acessar o conhecimento tradicional de comunidades no uso de determinadas plantas, ela consegue economizar anos de pesquisa na busca por princípios ativos e sua aplicação. Se o trabalho for feito dentro da lei, os lucros originados das pesquisas são divididos com a comunidade detentora do conhecimento. Como não vemos nenhuma dessas comunidades participando dos enormes lucros da indústria farmacêutica, fica óbvio que os caminhos corretos estão sendo ignorados."
A Merck alega que sua patente sobre o jaborandi não pode ser classificada como fruto de biopirataria, pois o conhecimento na obtenção de seu princípio ativo teria passado a domínio público antes da instituição da legislação brasileira que regulamenta o acesso ao patrimônio genético, que desde 2001 prevê a necessidade de autorizações específicas.
O acesso ao patrimônio genético brasileiro para fins de pesquisa está regulado pela Medida Provisória 2.186-16, editada em 2001, e depende de autorização do Ibama.
Poucos laboratórios, entretanto, seguem esse caminho legal, que especialistas em biotecnologia consideram lento demais.
No ano passado, apenas 39 pedidos de autorização foram encaminhados ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ibama. E somente cinco foram aprovados.
"O número pequeno de autorizações mostra o grau de burocracia desse processo, mais do que a incorreção dos pedidos", critica o coordenador do grupo de estudos em biotecnologia da Associação de Defesa da Propriedade Intelectual (ADPI), Gabriel Di Blasi.
Segundo ele, o processo de autorização para pesquisa dura um ano, em média.
"Diante de uma legislação extremamente burocrática e da falta de fiscalização, poucos laboratórios se dão ao trabalho de pedir licença ao governo brasileiro para as pesquisas. Desde a Eco 92 o governo debate a redação de um projeto de lei para regular as pesquisas envolvendo espécies nativas, mas o anteprojeto continua parado na Casa Civil por um impasse entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura."